Simulação de Emergência
- Álvaro Figueiró

- 3 de dez. de 2021
- 4 min de leitura

Um casal de amigos tinha-me indicado esse simpático apartamento térreo. Mais espaçoso que o meu, que ficava no segundo pavimento do mesmo predinho, tinha cozinha de azulejos celestes e vovozescos basculantes esmaltados. Os proprietários haviam-se ausentado e um exagero de bicicletas e triciclos testemunhava muitos filhos. Uma varanda ladrilhada de hexágonos cor-de-tijolo abria para o gramado dos fundos. A maior parte da grama estava submersa numa lâmina d’água que evoluía para um laguinho para o lado do meu apartamento. Caudalosa queda-d’água franklloydwrightiana saía duma sacada no meio do prédio. Tive curiosidade de observar a vista insuspeita para entender como afinal nunca percebera o gramado nem o laguinho; a queda-d’água já não percebia mais. A correnteza me pegou pelos tornozelos. Quando dei por mim, estava socado dentro dum rodamoinho. Com toda a força nadei de volta à margem. Só me cansei. Lampejo de esperança, respiração presa, torvelinho, quem sabe arejada caverna? Mas o ar me faltava. Compreendi que ia morrer.
Como não transmito este texto pela Kardec Wireless nem pela Vovó Maria Conga Telecom, menos ainda pelos Correios, para tristeza dalguns e lástima doutros, meus pulmões ainda não estão repletos d’água nem, melhor ainda, minha pança está espetada numa estalactite, bem longe das vistas. Mas já cansei de morrer – ao menos à guisa de Coiote Coió olhar pra baixo e só ver precipício.
Rapazinho, meu braço, não sei como, prendeu na janela do trem que chegava na Central e, a turba apertando-se contra a porta para o estouro da boiada, vi-me sugado para o vão, ergo, para debaixo do trem, ergo, para debaixo da terra. Também não sei como, joguei o corpo para trás e escapei de ser devolvido à minha mãe como carne moída. A juventude é atlética.
Tiroteios foram vários e sempre tive o bom-senso de manter as balas-perdidas afastadas de meus órgãos vitais, mas um em particular me encheu a boca com o tal do gosto de metal que julgava fajutice literária. Em Coelho Neto, a vã, mal entrada na noturna Avenida Brasil, viu-se em meio a enxame de marimbondo-sem-asa, ônibus e carros parados, policial correndo com o fuzil, um automóvel preto meio emborcado sobre a mureta central. O nosso motorista, contudo, apreciava a paisagem como se dirigisse um pedalinho. Até parou num ponto para resgatar uma chorosa mulher, gesto menos de monge que de pirata: dois reais de passagem não é coisa de se jogar fora.
Os tira-gostos de morte ferroviária e rodoviária ocorreram do lado de fora das pálpebras; o drinque letal, obviamente dentro das pálpebras. Em sonhos, já morri capotando de carro, desabando em acidente aéreo, afogado em rio, afogado em valão. Quer dizer, quase morri, porque quando é pra cortina de veludo preto cair de vez, quando é pra soar o acorde Tristão final, acordo, uma reação universal. Há muitas formas de morrer – Alban Berg morreu de furúnculo, Ödön von Horváth de galho –, mas, inventariando minha oniroteca, colijo monotonia. Nunca morri queimado nem esmagado nem atropelado nem adoentado nem estrangulado nem esfaqueado nem, outra paixão nacional, baleado. Tampouco experimentei aquelas mortes que o cinema e os videogueimes nos inspiram pela recorrência – empalado tentando saltar vão, imprensado contra o teto cadente, dissolvido em tanque de ácido (verde-catarro e borbulhante), esfrangalhado por mina terrestre, verrumado por pistola lêiser, abocanhado por besta-fera, flambado em cogumelo atômico, purerizado por bigorna da Acme. No meu rol, conheço só a angústia de morrer de queda, lenta, e afogamento, duas modalidades com toadas de verso simbolista.
É difícil entender tais recorrências. Não tenho nenhum trauma ligado a essas experiências (embora ali pelos cinco ou seis de fato quase tenha morrido afogado e, pior, no raso ao pular na piscina após um longo peruzinho, aquela forma de embriaguez infantil que consiste em rodopiar com cabeça abaixada para ficar zonzo). A morte por queda e por afogamento deve estar vinculada a alguma tradução onírica dos desconfortos corporais durante o sono. Quando rompo à flor da consciência após um pesadelo de afogamento, invariavelmente respiro mal, falta-me ar, o nariz congestionado. É a apnéia que pesadeliza. Numa das obras magnas da lero-lerística, A Interpretação dos Sonhos, o Dr. Freud adianta os estímulos corporais como fontes oníricas: quando o cobertor escapa, sonhamos que estamos nus; quando o braço cai, sonhamos com queda.
Seja como for, ao dormirmos, a simulação de experiências é tão realista (ou surrealista) que tradicionalmente se pensou os sonhos como mensagens divinas ou dalém-túmulo, como errâncias da nossa alma. Embora não me canse de admirar como as pessoas são burras – especialmente as que se acham sabidas –, também não me canso de admirar como as pessoas são inteligentes – especialmente as consabidamente burras. Que coisa incrível é a capacidade de decodificarmos vários signos abstratos que são meras oscilações pentelhesimais na pressão atmosférica como um pagode ou uma valsa! Que coisa incrível é o cérebro sem quase nenhum estímulo externo reproduzir o mundo nos sonhos! Desconfio que muitas das experiências que vivenciamos só nos sonhos são muito próximas, senão idênticas, a como as vivenciaríamos acordados. A mente é um simulador duca. Recordo, por exemplo, que o primeiro beijo de língua e a primeira transa menos que uma sobremesa gurmê de novas sensações sabiam a requentado de dejavu: o sono encarregara-se de arquitetar todo o pisca-pisca sensorial a partir da prancheta do próprio corpo – o contato e o contorcionismo constante das mucosas, língua contra bochechas, prepúcio contra glande. No caso do sexo, essa projeção era tanto mais impressionante, porque, recordando mesmo dos sonhos salientes pré-bronheiros, a simulação sacanágica, em retrospecto, parecia bem próxima à coisa em si.
Se os prazeres eróticos podem ser antevistos com tal precisão nos sonhos, então podemos extrapolar que as angústias da morte nos pesadelos também será o que experimentaremos. Quem sonhou que morreu, realmente morreu.




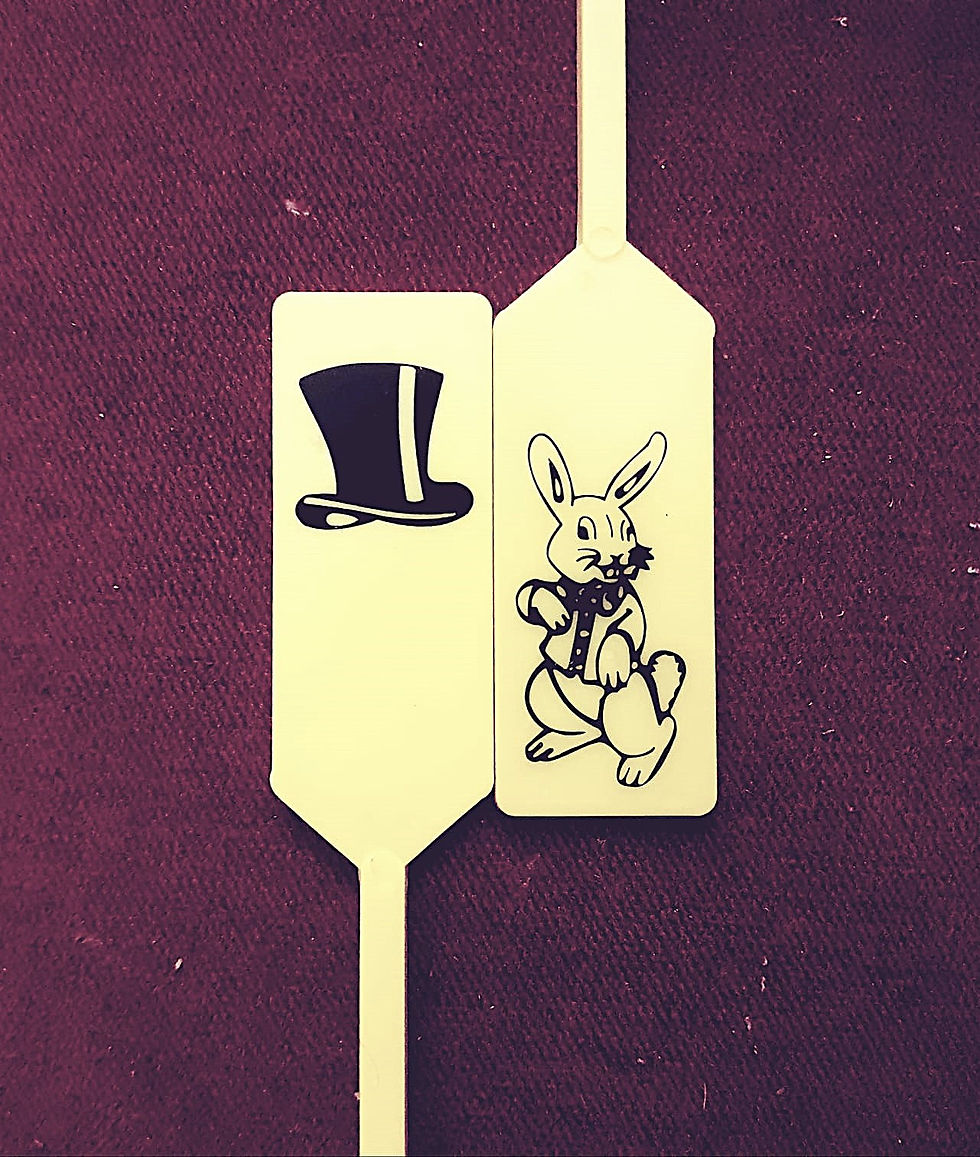

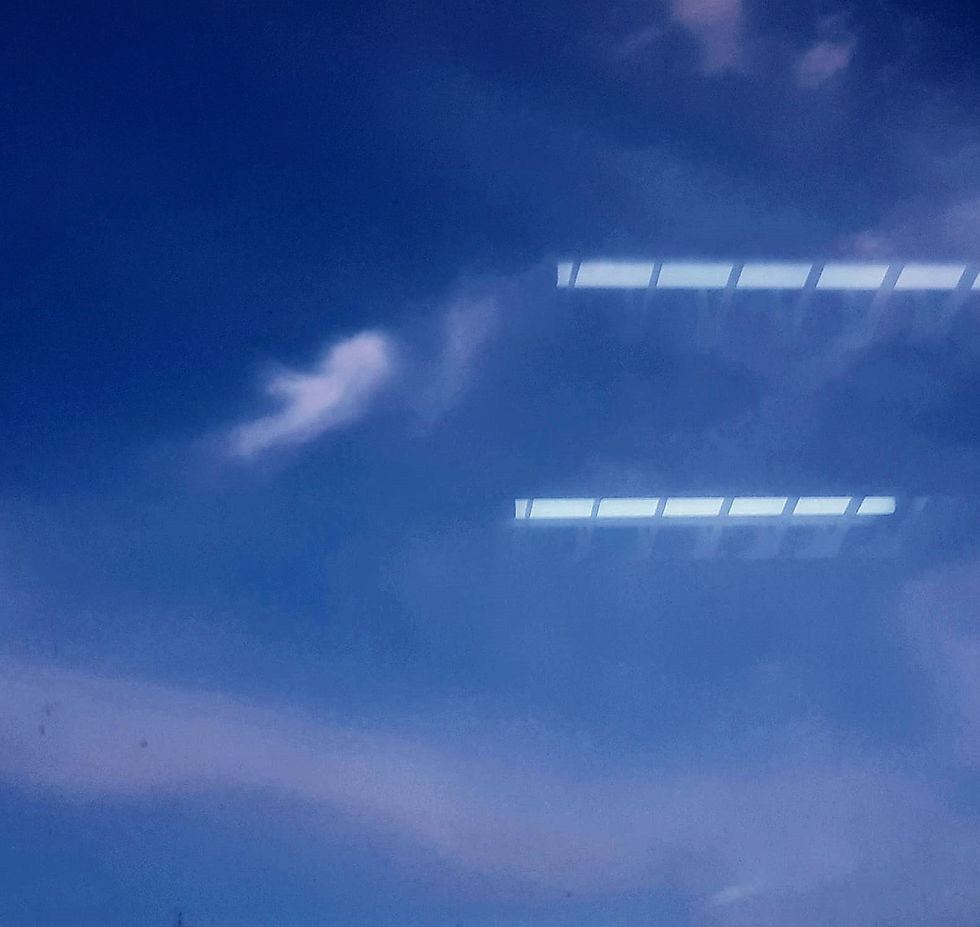
Comments