Uma Zoa
- Álvaro Figueiró

- 24 de fev. de 2024
- 9 min de leitura
Atualizado: 11 de mar. de 2024

Esshahaha foihoho das mi¡hihi!nhahahas! zohahaas favo¡hahi!rihitas! Hahaha!
Reunião de trabalho. Neojônico carrancudo, todo gnaisse, frontão liso, lajotas de mármore alvirrubras, maçaneta de bronze, porta dupla de jacarandá, lambris de jacarandá, parquê de jacarandá, mesona de jacarandá, cadeironas de jacarandá, espaldar de couro. Tudo duro escuro. Sol só fora, pátio. Na cabeceira incongruente, tinha às costas o retroceder ordeiro do gramado severo, das palmeiras-imperiais sérias, do lago sisudo onde se perfilhavam cisnes sistemáticos desprezados por pavões soturnos – as leis da perspectiva concluíam em palacete sóbrio e céu simples. Hahaha, essa foi das minhas zoas favoritas. Hahaha.
Antes, algumas palavras. Por Tristram Shandy.
Começos de 2007, fase frenética e fodida – último período de História, uma das três faculdades que cursava ao mesmo tempo, fora o alemão e a depressão. Findo o estágio na Fiocruz, precisava bancar meus porres. Me falaram de vaga numa fundação do Itamarati, a Funag. Prova, entrevista, essas lérias, me contrataram. Fiquei seis meses, que compartilharam muito da psique daquela diva, Katrina, a furacoa.
O trabalho era típico de escragiário: atividade intelectual indutora de morte cerebral. Transcrevíamos e revisávamos despachos imperiais do Conselho de Estado da Seção de Negócios Estrangeiros. A revisão era em dupla: um lia em voz alta o manuscrito digitalizado e o outro, em tese, acompanhava a transcrição impressa. Em tese, porque invariavelmente adormecia. Era batente de estragar papelote de cocaína em sachê de camomila. E tudo sisudo duro escuro.
Não foi tempo feliz, o contrário, mas bem divertido. Não conseguia levar a sério a seriedade seriona, aquele suadouro tropical para parecer serião comendo canapé, bebendo champanhe, vestindo fraque, passando pó-de-arroz. Pelos salões se haviam decidido crises no destino da Nação, como quem ia traçar a mulher do cônsul guatemalteco ou qual o corte de luvas na moda. Solão de fevereiro assando os cisnes e eu pensando: “carne de cisne é bom? e canapé de pavão?” Só veranico de julho desembolorava o cheiro de criptomonarquismo. Desde lá da Av. Marechal Floriano, pelas portas-janelas entrava então um bafão de merda das estercúlias em flor, melhor dizendo, em diarréia. Me diarria, sozinho. Mais ridículo que fraque tropical – pompa fedendo a merda.
Me apelidaram de Out. Uma colega só me chamava de Out. Quer dizer, eu é que ouvia o apelido como Out, suposta contração de outsider. Fazia sentido. A maioria dos estagiários estudava na UFRJ e já trabalhava ali há mais tempo. Depois é que descobri que não era Out de outsider; era Áuti – Áuti de autista.
Estagiários éramos uns dez. Chefe tinha três fora baba-ovos, tudo criptomonarquista, que tentavam pôr banca em nós: uma catatônica zé-cu, um gaúcho zé-cu, um bobo-alegre que parecia até gente-boa mas se esforçava para ser zé-cu porque namorava a catatônica zé-cu e era migucho do gaúcho zé-cucho. Os chefes eram o chefão, o chefe-do-bê e a chefa.
O chefão era o embaixador, assim referido só, O Embaixador. Por mais que se enrustissem suas fraquezas, O Embaixador também tinha nome. Chamava-se Álvaro – com mais razão que eu, porque, enquanto tinha só vinte e dois anos, ele colaborou nas negociações do Tratado de Tordesilhas. Foi embaixador na Grécia, não lembro se no tempo da Junta dos Coronéis, da República ou da Liga do Peloponeso. Esqueça o glamur gastronômico da diplomacia. O Embaixador só comia tofu e, menos apetitoso que tofu, os documentos históricos, de enojar até traça. Diplomata terceiro-mundista a rigor, suas posições eram inescrutáveis além da colônia e do uísque preferidos, no caso, ambos de tofu. Pressenti nele só vaga saudade pelo catarévussa e certa admiração por Geisel, o cara com coluna de desfile militar. Curtia Kaváfis. Isso já o redimia dos outros gostos, sobretudo do tofu.
O chefe-do-bê era historiador, moleque, quer dizer, hoje é. Em 2007, era homem-feito, formado, casado, empregado, reproduzido, pelos seus vinte e poucos. Cabelo doido para se exuberar em bleque, gilete ocasional, no fundo dos olhos e da voz marola e regue pressentidos. Quando queria explicar algo, fazia uns rodopios malandros com as mãos. Aprumava-se na cadeira gingando os ombros aos poucos e empinando a cabeça. Nessas horas, eu sempre contava levar um rabo-de-arraia. Como ele me daria um rabo-de-arraia sentado e com uma mesa de permeio, eu não sei, afinal entendo xongas de capoeira (sempre lutei com objetos, de preferência muito longos, perfurantes e pelas costas). Tanto besteirol, o certo é que ele devia ter ganas de me dar rabo-de-arraia. Vestia-se na mauricice mínima: camisa-social; daí abaixo, a modos de centauro invertido, gente normal, djins e sapatênis. Era evidente o seu desconforto. Mochileiro, admirava mais Pachamama e Mariátegui que o Barão do Rio Branco e Santiago Dantas. Equilibrava certo estoicismo, rasta embora, mas não era raro sorrisinho de deboche e até gargalhada ante uma graçola estagiária. O chefe-do-bê chamava os estagiários de funaguinhos. Chefe-do-bê e funaguinhos, junto com arquivista esquisitão (daí simpatizar com ele) e com secretária sorridente (daí simpatizar com ela), formavam o Lado B. Os funaguinhos demonstravam forte propensão a ir prà birosca e se pegar.
Nem o chefão nem o chefe-do-bê buzinavam os funaguinhos. O chefão tratava-nos com bonomia de Lorde Chanceler recebendo dignitários de estado-tampão centro-americano que não tinham a graça divina de serem súditos de S. M. Britânica. O chefe-do-bê só era um cara tranx que queria bufunfa pro mochilão, pro regue e prà revolução. Quem ocupava o posto de capitão-do-mato de escragiário era a chefa.
A chefa é, portanto, a proto-, deutero- ou antagonista deste causo zoeiro, nascituro. Rosto quadradão, catolicona quadradona, paranaense mezzo italiana, pół Polka, toda posuda, toda protocolar, toda reverente ao embaixador meu xará, marido adido naval. O sobrenome era dessas dinastias argentárias da Florença renascentista e não sei como nunca sacou da bolsa um pergaminho de pedigri. Gostava do papa, Bento XVI só pra lembrar. Em júbilo, cerrava as mãos, anticatolicamente enrabava o ar e sibilava yessss! Por estes tempos mutcho djoidjos, não me espantaria canarinha de Forte Apache, ali do lado. Achava-a mais empertigada que o embaixador, quem até falava gíria, embora setecentista, e, gaúcho da fronteira, esticava cara num carioquês administração Henrique Dodsworth. Era, em suma, cheia de merda. Nossa relação profissional tinha paralelos óbvios com duas personagens históricas, o Tom e o Jerry. Dum jeito jabe, gostava dela. Afinal, sou briguento e briga é como sexo: depende, pelo menos, de dois. É a deuteroagonista então.
Revisora-chefe, na sua mesa sempre A Construção do Livro de Emanuel Araújo. A briga começou por aí. Existem zilhões de formas de transcrever documentos históricos. A nossa era a atualização ortográfica. Era mas não era; só devia ser – sollen e sein neste Braseinsollen-len-len, Land des Konjuktivs II! Pela diretriz da atualização ortográfica pharmacia viraria farmácia, mas cousa seria preservado, pois a variante, a mais comum no século XIX, existe dicionarizada e, inclusive, persiste em edições de Machado de Assis. Mudar para coisa equivaleria à atualização textual, por mais que ligeira. Eu me recusava a mijar fora do pinico que impuseram eles próprios à minha torneirinha mental. Dous, cousa, noute, voltava tudo cortado de vermelho.
– Vocês não estão atualizando a ortografia! Estão atualizando a linguagem – esbravejava.
– Não estamos, não. Só ortografia.
– Então tem de ficar “os pareceres dos dous oficiais generais” como transcrevi e não dois como você ““““corrigiu””””.
– Não, é dois.
– No documento tá dous.
– Que fica dois.
– N o d o c u m e n t o e s t á d o u s. Quer ir lá ver no computador?
– Não.
– Então é atualização textual. Vocês não estão fazendo o que dizem que estão fazendo.
– Estamos sim.
– Não, não estão.
– Estamos.
– Não.
– A gente atualiza a ortografia. É dois.
– Não, não é. É dous como está no documento. É uma variante como louro e loiro, assobio e assovio. Vocês não seguem as próprias regras.
– Estamos seguindo as regras; você que não.
– Agora você está violando as regras da lógica.
– Como?
– Se você quiser publicar como dois tem de mudar as regras.
– Transcreva dois da próxima vez. E pára de ser cabeça-dura.
– Não. Vou transcrever dous, porque está dous no documento e fazemos, é o que vocês dizem, atualização ortográfica só.
– Você vai me fazer mudar toda vez pra dois?
– Só se você insistir em manter as diretrizes. Ou explicar a decisão no prefácio.
– Ah! Tsc! Vai, vai, vai trabalhar, menino.
Pode ser que eu seja mala, cricri, metido, implicante ou só mesmo áuti. O fato é que estava certo. Mas aqui o Iluminismo paracambiense foi tripudiado pelo utramontanismo paranense: publicaram dous como dois. Sorte que não editamos Machado de Assis.
No primeiro semestre de 2007, como disse, cursava três faculdades, fora alemão e depressão (ah! e paixão platônica...), logo meus horários eram e tinham de ser malabaristas. A chefa-revisora encrencou com a folha de ponto.
– Você está fraudando o ponto.
– Hein?! Frau dan do?!
Lembrei duma ou outra aula de Direito que escapou de ser suprimida porque tinha de jogar bola no Bolchevicão e carteirei:
– Isso é calúnia, crime tipificado pelo Código Penal!
Sim, oquei, beleza, justo, tá certo, tá maneiro, arredondava a entrada e a saída, mas chorinho, cinco, dez, quinze minutos. Admiti. Mas a palavra fraude (CP, art. 179) jogada assim na minha fuça me emputeceu tanto (CP, art. 138) que até me reformei. Passei a preencher os horários direitinho:
09:14:32 16:47:11
12:52:18 16:29:45
09:17:02 15:53:28
10:39:10 16:43:36
12:02:44 16:52:59
11:50:38 15:58:07
Ela se irritou com a trabalheira das contas e me deixou fraudulento.
A fissura fordista nunca se foi. Uma tarde voltei almotrasadoço, atrasadaço do almoço.
– Onde você estava esse tempo todo? – perguntou olhando, conforme mandam as regras da caricatura, pro relógio.
– Tava papando – respondi batendo, conforme mandam as regras da etiqueta, com as palmas no bucho.
– Então comeu pra burro, hein?!
Aqui, digamos, foi empate.
Mas eu também provocava gratuitamente. Às vezes, em polêmica funaguinha, buscava, fleumático, a opinião da chefa:
– Você é contra ou a favor de fazer patê de feto?
Ou:
– Como deveríamos distribuir renda? Com furadeira no ouvido ou ácido nos olhos?
Ou:
– Você não acha que, daqui a duzentos anos, o Brasil vai ser considerado menos importante na história universal que a Báctria?
Ou:
– Carne de cisne é bom? E canapé de pavão?
Ou:
– Vinte e cinco anos não é uma idade boa pra se suicidar?
Ela arregalava os olhos quadrados por trás dos óculos quadrados e abria a boca em quadrado para comentar quadrada. Na pergunta do patê de feto, lembro do hipercubo:
– Já até escrevi uma carta ao Ministério da Saúde contra o aborto.
Quando voltou da China em viagem com o Sr. Esposo Capitão-de-canapé, trouxe de mimo uma caixa de doces – caixa responsa, caixa chique. Os doces embalados com o requinte donde trabalho é bom e barato. Simpaticamente me convidou a experimentar os quitutes na copa. Meio fresco com comida, doce nunca tem erro. Peguei um cubinho. Aberto, lembrava um Gamadinho. Mal pus na boca, as mucosas todas secaram. Era igual, igualzinho a um torrão de terra. Igual que nem. Pensei: “Dei azar! Peguei um estragado ou talvez só estronho, bom-bocado de lacraia.” Fingi neutralidade para evitar desfeita e tentei um biscoitinho redondo, bonitinho, nada decolonial, ocidentalzão, parecia até ter açúcar-cristal. Sem erro, biscoito biscoito.
Não agüentei.
Me dobrei vermelho em soluços agudos. Foi a primeira e única vez que tive crise de riso por causa de comida.
– Mas quique foi, menino?! – alarmou-se a chefa. – Quique foi?
Quando voltou o fôlego, perguntei:
– Pô, isso é caixa de doce ou de amostras de solo?!
A chefa armou perplexidade em boca quadrada:
– Como assim?
– Tá com gosto de terra!
– Ah! Pára! Você é muito implicante.
– Não estragou no meio do caminho?
– Que estragou o quê! Doces finos! Todo mundo gostou!
– Todo mundo quem? Os geólogos chineses?
Peguei o pseudo-Gamadinho.
– Prova esse aqui, ó! Acho que é loesse.
– Tsc! Você cria caso com tudo!
Apontei para os ideogramas:
– Tem certeza que não tá escrito “Solos e Rochas da China”?
Pode ser que eu seja mala, cricri, metido, implicante ou só mesmo áuti. O fato é que estava certo. Os doces eram tão panques que, amigo-da-onça, maloquei vários para distribuir por aí. A graça sádica era ver a reação nas primícias da geofagia. Esqueça o glamur gastronômico da diplomacia. E tofu é uma delícia.
Me deixar sem graça à vera ela só conseguiu uma vez – e conseguiu pelo truque mais ardiloso, repugnante, vil, baixo, nefando, inominável, escroto, pura rũidade purinha. Eu lá prestes a uma martelada na tauba do novo barraco, ela, DO NADA, passou a mão pela minha bochecha e arpejou descendente:
– Alvinho...
Tivesse me golpeado os bagos com pé-de-cabra, minha reação teria sido mais veloz. A mão no rosto me aniquilou. O “Alvinho” cromático soou tiro de misericórdia. (Na Fiocruz, uma colega decidiu cortar meus apocalipses com beijoca roubada. Conseguiu e ainda ficou rindo da morte da oratória a desgraçada. Cada qual, com sua criptonita. Anotem aí, meninas, sobretudo as bonitas.)
Entre tanto gato-e-rato, nossa batalha mais célebre foi logo na minha primeira reunião de trabalho. Essa foi uma das minhahahahas zoas favorihihitas!
Escragiatura reunida em mesona de banquete de patriarca, jacarandá, cadeironas de jacarandá, espaldar de couro, tudo puro sisudo duro escuro, eu na incongruente cabeceira (cf. §. 2º supra). Jararacarandá destilando seriedade, soro nenhum, nem choro. Tudo e todos cara-de-cu. Só não tinha cheiro de cu, porque não era julho e as estercúlias ainda não estavam em caganeira. A chefa parece seriona, será seriona, vai ser seriona, está sendo seriona.
– Aqui não é um lugar qualquer.
Seriona sério serião sendo. Sol só fora. Tão rũi quanto caderno de caligrafia com gritos na rua.
E continua sendo. Geral.
– Vocês precisam ter postura, precisam entender que por aquela porta pode entrar a qualquer momento uma autoridade, um ministro, um embaixador estrangeiro mesmo.
Pressinto que minha hora está chegando.
– E, quando falo postura, não é só no jeito de se vestir, não. Por mais que isso seja muito importante também.
Ela começa a se voltar para mim.
– Olha...
Agora me encara, seriona.
Sim, diga-me.
– Eu cheguei a ver gente vindo aqui de sainha curta e barriguinha de fora...
Respondo duro, ofendido:
– Mas eu não uso sainha curta nem barriguinha de fora!
A mesa se despirocou em gargalhada. Tão óbvio. A chefa estatelou.
– Não estava falando de você, Álvaro. Não podia olhar pras meninas...
Minha cara fez um “Ah, é?! Puxa vida!” mímico enquanto os risos continuavam.
Pode ser que eu seja mala, cricri, metido, implicante ou só mesmo áuti. O fato é que estava certo. Nunca fui de sainha curta nem barriguinha de fora.
E essa foi uma das minhas zoas favoritas.




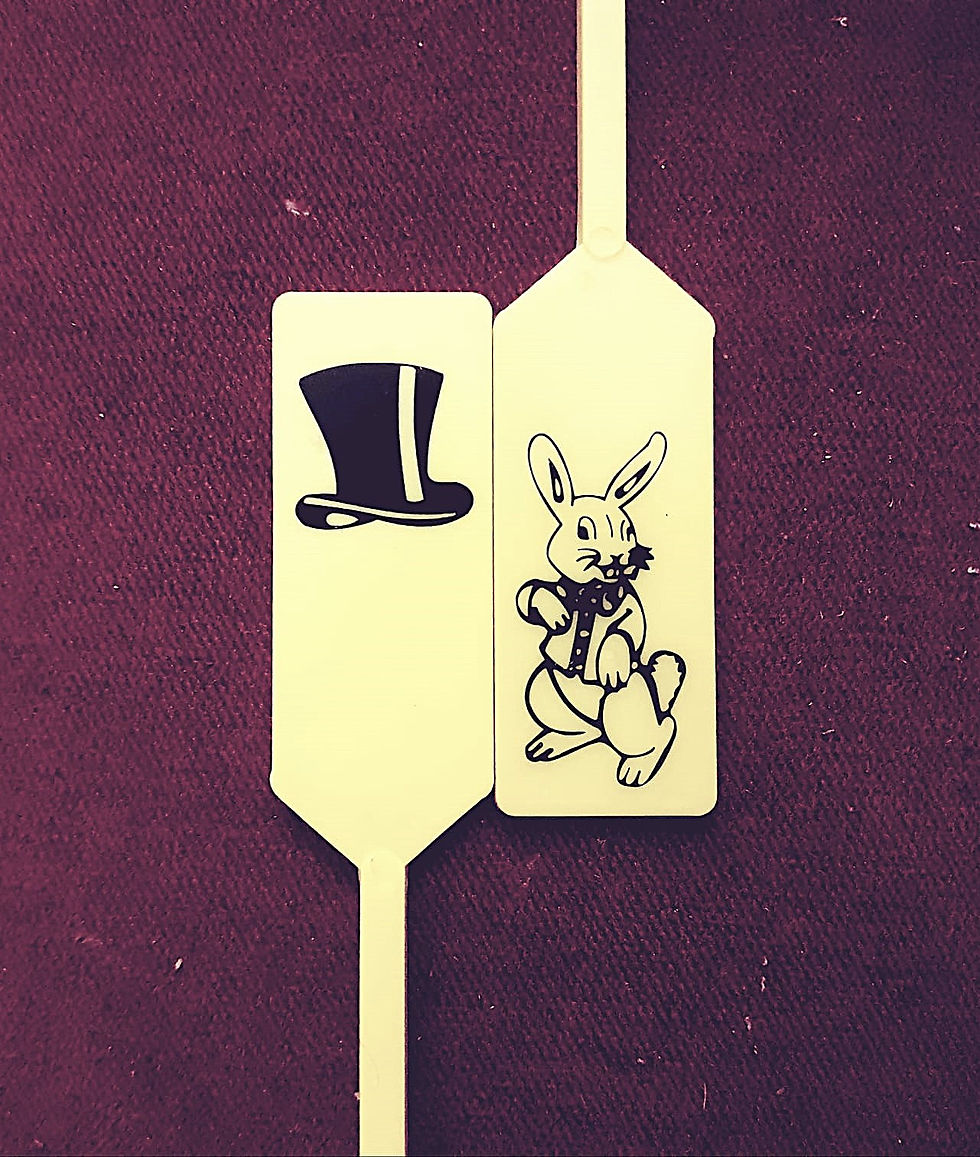

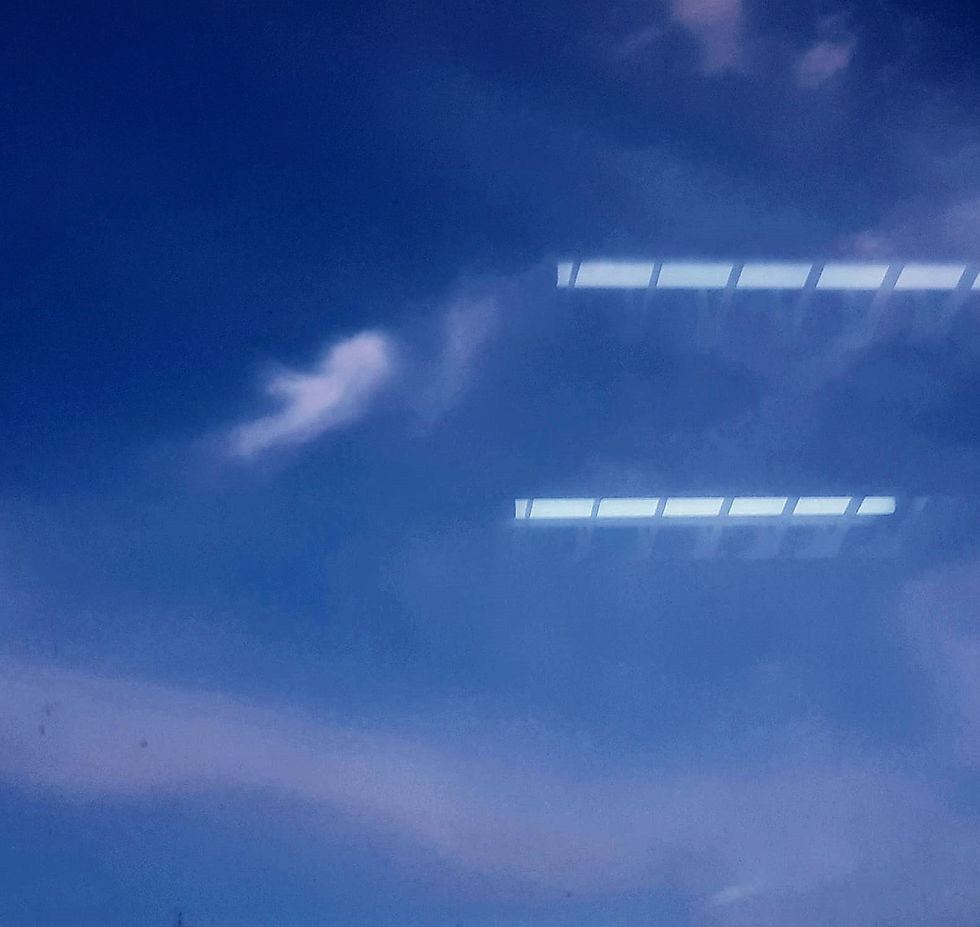
Comentários