Politraumatismos Zootrágicos Animados – The Plague Dogs
- Álvaro Figueiró

- 25 de nov. de 2020
- 10 min de leitura

Se tu arranjou um bom emprego, se viu a tua paixão correspondida, se terminou um longo trabalho do qual pode te orgulhar, se acertou em cheio na corujinha, eu tenho o remédio certo para remover essas serotoninas e endorfinas daninhas do teu organismo: um dos filmes mais niilistas, depressivos e brutais jamais feitos – e é desenho animado, com cãezinhos fofos, pra assistir juntinho coas crianças. O material indigesto, as cenas violentas, o final baixo-astral, a distribuição hesitante e o fiasco de bilheteria asseguraram que ninguém, ao menos aqui no circuito tropical, tenha tido a infância traumatizada, senão arruinada, por esse filme. Já nos bastam os pais que alugavam Akira pros seus pimpolhos iludidos de que se tratava apenas de mais um “desenho”. Pesquisando na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, não encontrei pelos jornais fluminenses ou paulistas menção nenhuma a esse bicho-papão espreitando a 24 quadros por segundo. Até na anglosfera não é lá muito manjado. E, apesar de tudo, merece ser visto. É um grande filme.
A primeira cena é a placidez da água – interrompida por patadas dum cachorro lutando para não se afogar. Mas se afoga. É pescado por um gancho e ressuscitado com tubos de oxigênio por dois cientistas de fala mansa que se admiram que a cobaia dessa vez continuou nadando seis minutos a mais antes de se afogar. Na cena seguinte, o tratador, distribuindo rango no canil, percebe um doguinho felpudo e sarnento durinho da silva, língua de fora. O cadáver é removido com uma pá.
E é assim que começa The Plague Dogs, filme pra assistir juntinho coas crianças. Trata-se de produção anglo-americana de 1982, dirigida por Martin Rosen, e não nipo-alemã de 1942 por Leni Riefenstahl. Em 1978, Rosen já traumatizara, senão arruinara, muita infância com Watership Down, adaptação cinematográfica do romance do inglês Richard Adams, onde a sangueira da Ilíada e da Eneida, as torturas da Divina Comédia e os perrengues da Odisséia são reencenados por coelhinhos. The Plague Dogs traz de novo essa traumatizante dobradinha entre Adams, que tem como musa o Freddy Krueger, e Rosen, cujo santo padroeiro é o Velho do Saco, numa produção da Boogeyman Pictures, roteiro da Cuca junto com o Boi da Cara Preta. Os distribuidores tentaram mitigar o tom macabro fazendo cortes. E cortaram de tudo quanto é jeito, de forma que há aproximadamente 3,27 porrilhões de versões, mas todos os editores deste lado da galáxia poderiam ficar cortando e colando até o último átomo do universo pifar que o filme continuaria macabro. Para quem quiser impacto pleno, a versão autoral é a australiana.
Mas, silêncio, que as crianças querem ver o filme, versão australiana...
No canil, Rowf, a cobaia da primeira cena – um labrador preto, raça que gosta d’água –, tem como vizinho o branquinho malhado de caramelo Snitter, foxterriê, a bem dizer smooth fox terrier, esse lordismo todo porque nascido na Grã-Bretanha (fosse de Nilópolis era o nosso simpaticão vira-lata). Snitter consegue se esgueirar por baixo do alambrado para o cercadinho de Rowf, quem, por acaso, descobre que o tratador não fechou direito a porta. Fugindo do canil, ambos se intrigam perante laboratórios com coelhos, ratos e macacos. Após passarem a noite dentro do incinerador onde se vaporizam os cadáveres, cujas ossadas ainda restam, ao raiar do dia aproveitam a mais uma porta aberta e fogem do inferno experimental.
O coração desanuvia. Ufa! Agora as coisas vão melhorar, tirante, claro, os contratempos de praxe (aventura! adrenalina! emoção!).
Não exatamente.
Ao contrário de Rowf, cobaia desde filhotinho, Snitter, ex bicho de estimação, anseia reencontrar um dono. Juntos topam com uma cidadezinha, mas ficam apavorados ao verem um açougueiro, que, além de brandir faca, enverga o mesmo jaleco branco dos temidos cientistas (white-coats). Fogem para as montanhas, literalmente. Snitter ainda sustentará visão positiva dos humanos, ao menos aqueles qualificados para serem donos, enquanto o misantropo e corpulento Rowf insiste para que se tornem animais de verdade, selvagens. A dupla consegue matar uma ovelha – cuja carcaça sanguinolenta acossada por varejeiras aparece pra assistir coas crianças –, mas logo os pecuaristas se mobilizam para caçar, com trabuco doze, cano duplo, as bestas-feras. Os cachorros conhecem Tod, raposa com pinta de cafetão, que lhes ensina a matar ovelha direito, roubar galinha, trucidar sapos, esganar patos, tudo na maciota. Tod inspira a mesma confiança dum vendedor de bilhete de loteria premiado. Vendo que o ramo leso da família canídea não tem muito traquejo para sobreviver na rua, o inverno chegando, Tod se escafede. Cada canídeo que lamba sua caceta. Para Snitter a sobrevivência é mais difícil ainda, pois o experimento a que fora submetido – a ferida aberta na cabeça se vê – consistiu em embaralhar as percepções objetivas com as subjetivas, ou seja, a realidade com a ilusão. Numa cena, enquanto Tod e Rowf caçam ovelhas, Snitter, significativamente, digladia-se com o curativo que acabara de se soltar da cabeça. Nos trechos nos quais Snitter lembra ou fabula memórias do lar, os fundos tornam-se monocromáticos, sem dúvida referência à crença, errônea, de que os cães enxergam só preto-e-branco.[1]
A cada nevasca Snitter e Rowf mais pele e osso, mais gente no encalço para cuspir marimbondo-sem-asa nos bichos. Como os cachorros escapuliram dum laboratório onde se experimenta com peste bulbônica, a mídia espalhou o zunzunzum de que os fujões poderiam estar medievalmente infectados: The Plague Dogs! De reles praga agrícola são alçados a ameaça à segurança nacional. Agora é perseguição com helicóptero e rifle com mira telescópica. Aventura! (Ansioso pelo final feliz!) Tod reaparece para dar uma patinha aos seqüelas – derruba dum penhasco o atirador e nessa noite teve janta –, conduz a dupla para um vale ameno e dá outra patinha no despiste. Emoção! Snitter e Rowf alcançam enfim uma bela praia – pena que estão encurralados por um pelotão do exército de Sua Majestade Britânica. Adrenalina! (Não querendo bancar o estraga-prazer involuntário, reservo sob a rubrica de espóiler a descrição e a interpretação do final.)
É duro aturar filme com bicho falante, mas essa premissa calamitosa é superada por diversas formas. Há um equilíbrio preciso entre o realismo e o antropomorfismo. Embora os animais não sejam desenhados com rigor de monografia zoológica, tampouco há distorções cartunescas. Os bichos falam sim, mas suas feições não se desfiguram em caretas humanas. De fato, é pela linguagem corporal tipicamente canina que se denotam as emoções. Quando Snitter causa sem querer uma brutal cagança ou viaja num trem, ele se arqueia todo igualzinho a cão acuado. The Plague Dogs não ultrapassa aquela linha que, nos simulacros, o artifício passa a causar aversão: a abstração duma estátua marmórea causa-nos admiração, um daqueles cristos cabeludos e mamulengos com chagas purpúreas causa-nos aversão ou ridículo, o tal do uncanny valley. Uma animação fotorrealística como se tornou possível nos últimos anos teria tornado o filme absurdo; uma animação disneyficada teria, por outro lado, tornado o filme inócuo.
Outro ponto que facilita nossa aceitação de bicho falante é que os diálogos são talhados conforme a mundivisão dos animais. Embora sem nada comparável ao idioleto de Watership Down, os cães expressam uma percepção singular. Para eles, p. ex., as mudanças na paisagem e no clima são artimanhas dos white-coats. Essa visão ingênua é contrastada com a da raposa Tod, quem se exprime de maneira dialetal, malandra e elíptica.
A sinopse já deve ter mostrado que a trama não é das mais ensolaradas. Tanto a misancene quanto o desenvolvimento contribuem para o ar soturno. Há pervasivo matiz azulado, grisáceo, metálico, como nos policialescos de Jean-Pierre Melville – com a diferença que nenhum personagem tem o ar descolado do Alain Delon. Há truques cinemáticos – ângulos holandeses, plongês, contraplongês, trévelim de contorno (surpreendente ante a técnica artesanal da época) – que conferem sisudez adicional. Os fundos são pintados com traços quase expressionistas. Assim o cenário principal da ação, o decantado Lake District, que inspirou uma geração inteira de poetas românicos, aparece antes como charneca para bruxas de Macbeth. Quando Rowf e Snitter topam com um círculo de menires ao crepúsculo, há um ar ominoso à Munch. Os humanos quase sempre aparecem em closes, costas, pernas ou rostos tapados por objetos, que os tornam inescrutáveis. Parte significativa do contexto maior, inacessível aos bichos, como a presumida ameaça biológica, é feita por diálogos entre invisíveis humanos enquanto outra coisa corre na tela.
Há duas grandes temáticas que o filme aflora: uma explícita, a crueldade com animais travestida de ciência; uma implícita, o niilismo. Por diversas vezes, Rowf e Snitter palpitam que os experimentos dos white-coats deveriam ter algum propósito, deveriam trazer algum benefício – o venefício da dúvida. Para publicar em 1813 o Traité des Poisons, obra pioneira da toxicologia, Mathieu Orfila envenenou milhares de cachorros vadios. Valeu a pena? Talvez tenha servido para menos janta temperada com arsênico. Os testes toxicológicos são um dos maiores argumentos para experimentos com animais, sobretudo o método LD50 que consiste em determinar a dose que mata metade das cobaias. Contudo, há incontáveis bolas-foras. A penicilina é ineficaz em porquinhos-da-índias e a talidomida não produz fetos deformados em cachorros, gatos, ratos, râmsteres, galinhas nem mesmo em macacos. A mesma cicuta que matou Sócrates é comida por cabras. Até o LD50 descamba para o sadismo pleno quando se forçam ratos ingerirem o equivalente em glicose a 1.800 garrafas de refrigerante (para tornar o experimento mais cruel, o Dr. Joseph Mengele von Doolitle empregaria o próprio refrigerante Convenção). A futilidade doutros testes transparece na irrelevância do risco. O teste de Draize pingapinga líquido irritante nos olhos, de preferência olhos vermelhos do coelhinho de pêlo branquinho. Na maioria dos casos, o que se testa é um novo cosmético ou um novo detergente como se o mundo já não tivesse cosméticos e detergentes bastantes. Daí podemos escorregar mais alguns barreiros abaixo e mencionar os testes que pretendem estimar nos bichos os danos que os humanos vão causar, proposital ou acidentalmente, em si mesmos: o cilindro de Noble-Collip ajuda a calcular quantas rotações são necessárias para quebrar os ossos das cobaias. Na câmara dadaísta de torturas, a palma cabe aos estudos de Harry F. Harlow sobre privação emocional e sensorial em macacos. Harlow pegava macaquinhos recém-nascidos e metia-os numa gaiola onde permaneciam anos confinados, sem sequer luz (variantes do parque-de-diversões: well of despair e tunnel of terror). Quando saíam do xilindró, os macacos estavam totalmente tantãs. Harlow ficou curioso para saber se as macacas noiadas dariam boas mães, mas, como nem o macho mais galudo se interessava por paquerar tamanhas tarjas-pretas, nosso nobre psicólogo inventou uma gambiarra de inseminação artificial batizada de rape rack. O cientista era a versão catedrática daqueles endiabrados irmãos sardentos da minha rua que punham pintinhos na máquina de lavar roupa, um cilindro de Noble-Collip fundo-de-quintal (os capetinhas mijavam no carpete do quarto também). Alguém abra um portal e dê lá umas boas mocas no Dr. Harlow – moca com perna-de-três. Essas críticas, hoje mais bem digeridas, estavam começando a repercutir na época de The Plague Dogs graças a livros como Animal Liberation do australiano Peter Singer, publicado em 1975.[2]
A mensagem niilista do filme é que há feridas tão profundas que nada pode sará-las. Durante toda a jornada, Snitter devaneia hamletianamente sobre os benefícios da morte, após a qual não há fome, frio, fugas, facas. Ao contrário de Rowf, o labrador traumatizado, a água produz atração no foxterriê. Diante dum lago, Snitter constata, para seu próprio reflexo, quão mais aconchegante não seria o outro lado da água. Essas tendências suicidas contrastam com a bonomia (ou melhor, boncania) de Snitter, que, entretanto, acaba envolvendo-se em tragédias involuntárias com inexorabilidade ática. Apesar da fuga do laboratório, ao contrário das expectativas, não há redenção nenhuma para os cães, nada há de melhorar. O único consolo é a morte. É o Phillip Mainländer em desenho animado. Uma bela mensagem pras crianças.
As duas coisas mais tristes que li na vida creio terem sido A Metamorfose e o final de Pnin, de Nabokov (que tem passagens bem divertidas, ao contrário do conto de Kafka, que, a partir do primeiro parágrafo, é tobogã com giletes para dentro dum buraco-negro). The Plague Dogs compete bem com o praguense e com o petersburguês. Às vezes me pego matutando se, além de velho, lerdo e gordo, também estou ficando emocionalmente borracha-fraca. Se a comunhão em franqueza de fraqueza pode lá trazer algum consolo, pelo menos vi em fóruns de internete, blogues e críticas amadoras uma baita marmanjada confessando-se movida pelo filme. Pode ser que estejamos num ponto sensível de mutação e o impacto derive menos do filme que duma racionalização bamba. O frissom causado no seu tempo por obras como A Cabana do Pai Tomás, A Escrava Isaura e O Navio Negreiro, em maior ou menor grau conforme o caso, tributa mais a contextos específicos de sensibilidade do que a refinamentos artísticos intrínsecos. Vivemos um momento escalafobético no equilíbrio entre sensibilidade e conduta para com os animais. Em todo o caso, como sempre digo, hoje a única coisa que me escandaliza mesmo é violência contra animais.
Espóiler! Espóiler! O final do filme é reputado como ambíguo. A meu ver, é bastante claro. As coisas correm assim, ó:
Quando o exército se aproxima da praia, Snitter anima-se por avistar uma ilha. A perspectiva corta para trás do foxterriê, de forma que vemos o mar e o sol, mas nenhuma ilha. O cachorro corre para a água e começa a nadar rumo à presumida ilha. Apesar do medo d’água, Rowf segue o amigo. Dois tiros são disparados, aparentemente errando os alvos. De imediato, uma neblina envolve o mar. Rowf e Snitter continuam nadando. Em certo ponto, Snitter tem dificuldade para continuar e geme que não há ilha nenhuma. Rowf garante que consegue ver sim uma ilha e pede que Snitter o siga. O foxterriê recobra as forças e ambos nadam avante. Aparecem os créditos contra uma bruma indevassável. Ouve-se uma canção atenuada. O tempo desanuvia, a música desdobra-se em gospel aleluiesco, vai surgindo uma ilha no horizonte. The End.
Há quem acredite que a ilha exista mesmo e a dupla chega lá num happy ending oblíquo. Ora, Adams é tarado por minúcia geográfica – testemunha Watership Down que traça como carta do exército os acidentes duma colina e seus arredores – e os cachorros chegam ao vilarejo litorâneo de Ravenglass. A ilha mais perto da costa é a de Man, a 75 quilômetros. Seria invisível a partir da praia e inatingível a nado por dois cães extenuados. A interpretação mais óbvia é que os bichos se afogam mesmo – retomando, aliás, a primeira cena do filme. A diferença é que o afogamento final é, bem ou mal, um gesto de liberdade e de liberação (já disse que o filme é niilista). Quanto à ilha, ela é outra das fabulações de Snitter. Quando ele se dá conta de que se enganou, Rowf apenas o ampara no erro para que o foxterriê morra iludido de que há sim uma ilha. Essa ilha fica sendo, para os otimistas desejosos de happy ending polinomial de quatro grau, uma metáfora do além ou, para os pessimistas aritméticos, o topos da ilha dos mortos. O que permanece em aberto é se toda essa natação não passa dum devaneio de dois cachorros baleados. Fica então a teu gosto, espectador, se Snitter e Rowf morreram de bala ou de asfixia.
No final de Stalingrado, de Joseph Vilsmaier, dois soldados alemães tentando voltar para casa agonizam, abraçados, à espera da morte numa nevasca no meio do nada russo. O final de The Plague Dogs é tão fodido quanto isso – com a diferença de que os cachorros nunca foram os algozes de ninguém, pelo contrário.
Estatística dos mortos
Cachorro: 3
Humano: 3
Ovelha: ≥ 2
Pato: 1
Galinha: 1
Sapo: 1
Raposa: 1
[1] https://theconversation.com/do-dogs-really-see-in-just-black-and-white-131438. [2] A maior parte dos exemplos do parágrafo foram tirados desse livro. SINGER, Peter. Animal Liberation. Nova York, 1990, 2ª ed.




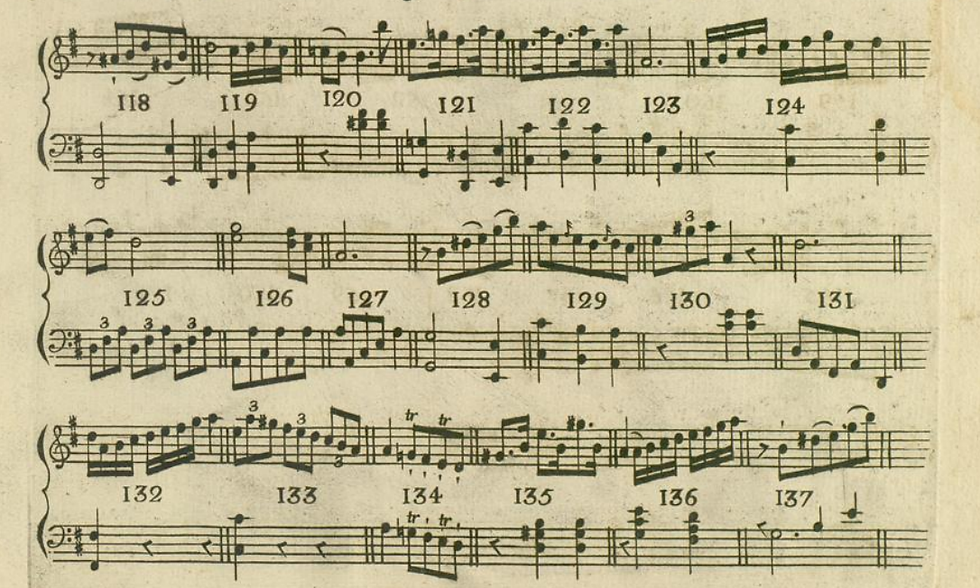
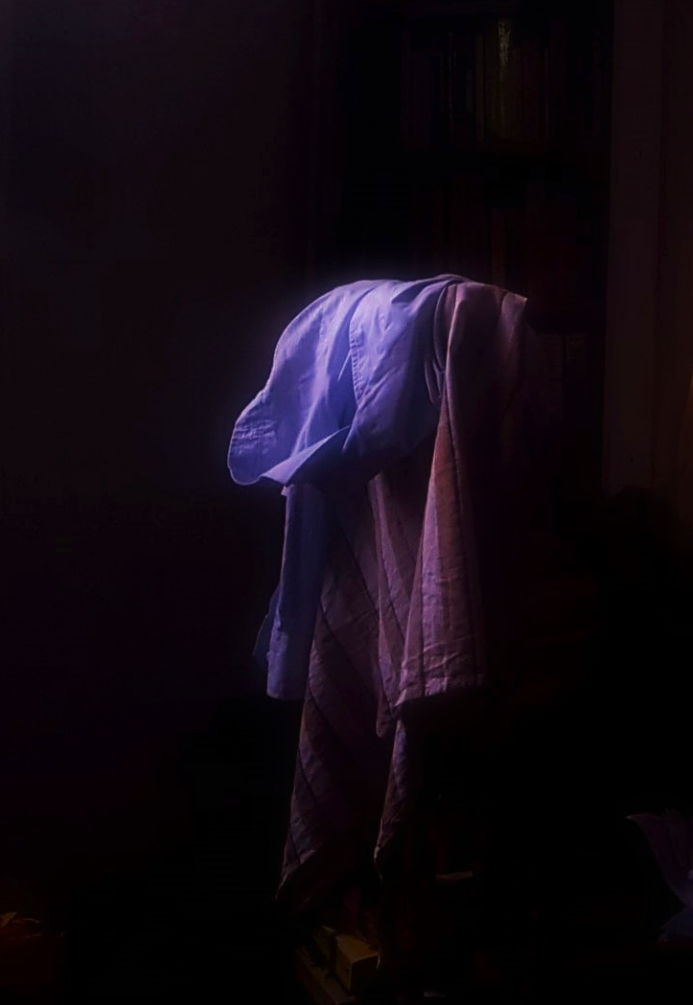

Comments