Ecos Uivantes: Piada, Conto-da-carochinha, Poesia
- Álvaro Figueiró

- 27 de abr. de 2021
- 5 min de leitura

Para Dalí, o primeiro fulano que comparou uma moça bonita a uma rosa era um gênio, mas o segundo, esse já era um idiota. Mas seria idiotice supor que toda comparação de moça bonita com rosa tenha sido imitação? Uma das coisas mais intrigantes na história da arte – mas também da história como um todo – é a reiteração de formas, de temas, de soluções, de topos, de estruturas nos lugares mais inesperados. É problema que pode ser aproximado das querelas entre difusionistas e pluricentristas na antropologia. Algumas reiterações se explicam quase por fundamentos cognitivos: incontáveis piadas empregam a tríade, pois é o mínimo para uma quebra de expectativa, no humor uma das penas-mestras para cosquinhas (o primeiro personagem afirma, o segundo reafirma e o terceiro escaceteia). Mas, sim, o óbvio é ensaboado: os astecas, os incas e os maias atingiram proezas civilizacionais sem a roda, cuja invenção, entre as nossas crianças, é o emblema do óbvio (aliás, a roda pré-colombiana só era usada mesmo pelas crianças, em brinquedo).
Vez ou outra, vira-e-mexe, aqui e ali, dia sim, dia não, deparo-me com ecos uivantes, ecos ululantes de óbvios ensaboados. Pergunto-me também em qual vácuo o eco se propaga: no intra- ou no extracranial? Morcego doido, é preciso achar a fonte do eco e contar o caminho com o pulso débil da erudição e o febril da imaginação. Quase sempre nesses exercícios só se ouve o eco da própria voz.
Exercício Nº 1. Há muitos anos atrás, um colega cefetiano contou-me, como testemunha ocular, o causo do chinês da pastelaria que enxotara pombo gritando “Sai, flango!” Tempos depois comecei a ouvir a mesma história como se piada fosse (narrativamente passava a se exigir o intróito do cliente pedindo pastel de frango). O colega estava de caô, apimentando como causo uma piada? O causo foi a geratriz da piada? O evento ocorreu mais duma vez? “Frango” e “pombo” em chinês são homófonos? Por que o pasteleiro enxotaria o frango em português e não chinês?
Exercício Nº 2. Recentemente, lendo a história de São Guinefort, lembrei na hora dum incidente narrado no álbum Cães de Raça do chocolate Surpresa, que comilicionei lá em 1992 ou 1993. A conexão não é tão espúria. É que Guinefort, além de santo, era cão. Um dia, na Idade Média, os senhores tiveram de dar uma saidinha do castelo e deixaram o bebê aos cuidados de Guinefort, babá e cão. Uma cobra entrou no castelo e ia almoçar o gentil-homenzinho, mas Guinefort, paladino e cão, trucidou o imigo em refrega ardida. Quando os patrões voltaram, viram o quarto ensangüentado e o berço revirado. O senhor nem pestanejou e no ato matou Guinefort, bucha e cão. Só depois o zureta notou a cobra morta. Guinefort, mártir e cão, foi canonizado pelo povo. Na versãobrasileiraherbertrichardsnestlé, era tudo igual, tirando que o castelão virava caipira, o galgo virava fila, a cobra virava onça, a espada virava espingarda. Só o cachorro é que não virava santo. Afinal a hagiografia galocanina ingressou no folclore brasileiro? Alguns eventos se repetiram? É só o tipo de história que, cedo ou tarde, um caozeiro esforçado vai inventar e um bando de trouxa vai acreditar? O redator do chocoálbum simplesmente surrupiou a história que ele poderia, como eu, ter lido num historiador bem pope como Georges Duby?[1]
Exercício Nº 3. Emily Brontë é conhecida pelo romance gótico-psicopático Wurthering Heights que, no Brasil se empastelou em O Morro dos Ventos Uivantes. A mana Brontë também escrevia poemas, como este de 1838:
The night is darkening round me,
The wild winds coldly blow;
But a tyrant spell has bound me,
And I cannot, cannot go.
The giant trees are bending
Their bare boughs weighed with snow;
The storm is fast descending,
And yet I cannot go.
Clouds beyond clouds above me,
Wastes beyond wastes below;
But nothing drear can move me;
I will not, cannot go.
Seja pela estrutura, seja pela temática, seja pelos artifícios, lembrei-me dum dos melhores poemas de Georg Trakl, o primeiro dos Drei Träume (“Três Sonhos”). Ei-lo no original e em tradução selvagem, sem rima, nem metro, nem rigor:
Mich däucht, ich träumte von Blätterfall,
Von weiten Wäldern und dunklen Seen,
Von trauriger Worte Widerhall –
Doch könnt' ich ihren Sinn nicht verstehn.
Mich däucht, ich träumte von Sternenfall,
Von blasser Augen weinendem Flehn,
Von eines Lächelns Widerhall –
Doch könnt’ ich seinen Sinn nicht verstehn.
Wie Blätterfall, wie Sternenfall,
So sah ich mich ewig kommen und gehn,
Eines Traumes unsterblicher Widerhall –
Doch könnt’ ich seinen Sinn nicht verstehn.
Parecia-me sonhar folhas cadentes,
Largos bosques e negros lagos,
Ecos de tristes palavras,
Mas sem seu sentido entender.
Parecia-me sonhar estrelas cadentes,
Rogos chorosos de olhos pálidos,
Ecos de alegres palavras,
Mas sem seu sentido entender.
Folhas cadentes, estrelas cadentes,
Assim me via sempre indo e vindo,
Eco imortal dum sonho,
Mas sem seu sentido entender.
Só uma nota de apresentação. Nascido em 1887 em Salisburgo, Trakl é um dos maiores representantes da poesia expressionista. Farmacêutico de formação, foi arregimentado no mambembe exército austro-húngaro logo após o apito inicial do enlameado rachão que abriu o Super Mata-mata, temporada 14-18. Após assistir no fronte ao enforcamento de treze ucranianos vira-casacas, teve um neuropiripaque e foi pro hospital morrer de overdose de cocaína, talvez suicídio, isso já em novembro de 1914. Não é preciso nem ler os poemas para constatar a angústia de Trakl; basta olhar a própria caroça do poeta – burda, brutal, envelhecida, expressionista, um Schiele encarnado. Há crítico brasileiro que considerou a poética de Trakl, como a de Georg Heym, próxima à lírica de Augusto dos Anjos.[2] Para Trakl, isso é viagem aos confins da maionese de piração de batatinha; para Heym, com restrições, às vezes calha. (Tá certo que não tenho muita moral pra torpedear as comparações alheias, pois tou tentando fazer Emily Brontë e Trakl se roçarem.)
Pode não parecer pela tradução, mas o poema de Trakl é excelente. As duas rimas para doze versos atuam co-expressivamente: não só um dos pivôs é a própria palavra “eco” (Widerhall), mas o outro, “compreender” (verstehen), forma um estribilho que, num poema cheio de repetições e paralelismos, intensifica que não se está entendendo nada. Incompreensão manifesta também nas reações contraditórias suscitadas pelos cenários (gargalhadas ante o choro, tristeza em meio à natureza plácida).
Há semelhanças com o poema de Emily Brontë. Aqui as quadrinhas formam uma tríade que martela a regra, não a sua quebra: em Brontë, a insistência nas piores circunstâncias não faz como que se arrede o pé; em Trakl, a sucessão de imagens não traz iluminação nenhuma. Ambos têm uma rima-pivô (“go” e “Widerhall) e um estribilho adversativo (embora em Brontë a última estrofe abra a possibilidade de a permanência ter-se enfim tornado deliberada). E ambos compartilham melancólica dissociação perante o mundo, fatalismo perante a vida, tristes como observar o oceano mirrado dum aquário – em Trakl tudo mais pungente, pois se percebe esforço vão de entendimento enquanto em Brontë abandono à catástrofe.
Na atmosfera intelectual do Jugendstil na qual se criou Trakl, a poesia inglesa que se apreciava era a pré-rafaelita, simbolista, decadente ou esteticizante dum Swinburne, dum Wilde, dum Rossetti, até dum Blake. As irmãs Brontë não deveriam entrar. Mas, em alguma medida, Trakl ecoou Emily Brontë. O sentido é que eu não entendi direito.
[1] DUBY, Georges. L’Europe au Moyen Âge. Paris: Flammarion, 1984, pp. 70-73.
[2] BARBOSA, Francisco de Assis. “Notas Biográficas”. IN: ANJOS, Augusto dos. Eu e Outras Poesias. Rio de Janeiro / Belo Horizonte: Livraria Garnier, 1998, p. 162.




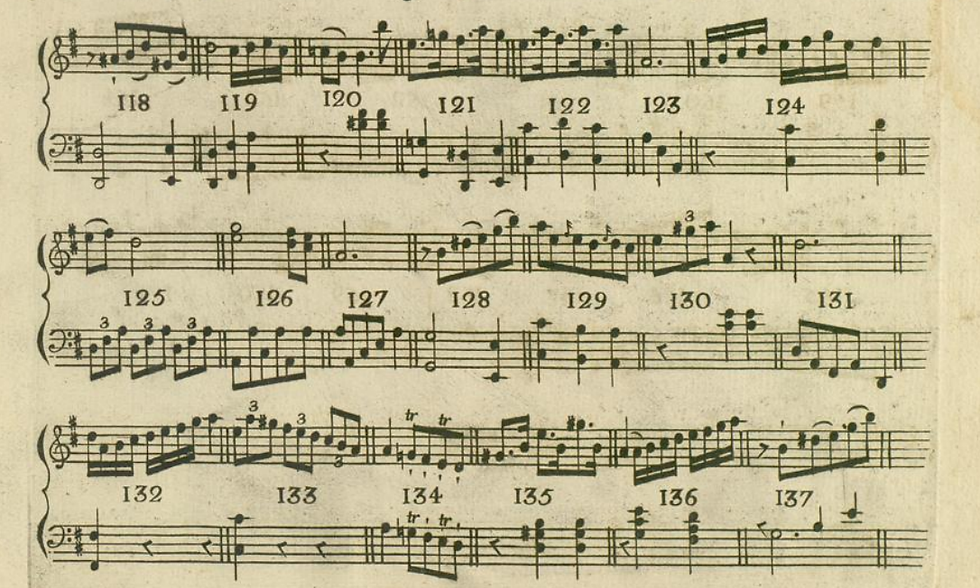
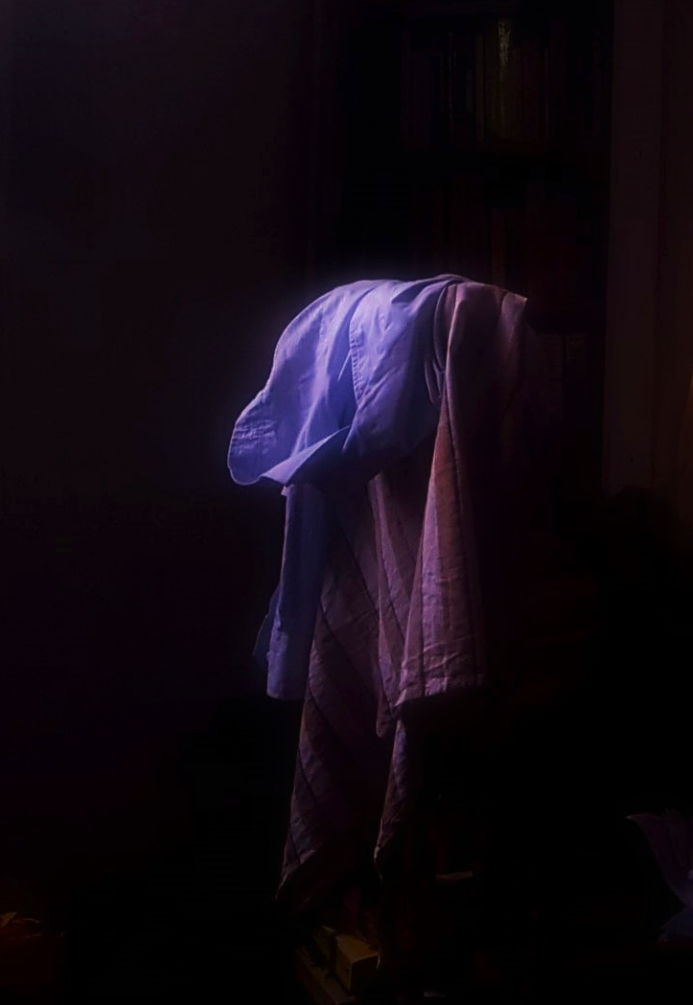

Comments