Etimologia < lat. otarius
- Álvaro Figueiró

- 24 de jun. de 2021
- 9 min de leitura
Atualizado: 24 de jun. de 2021
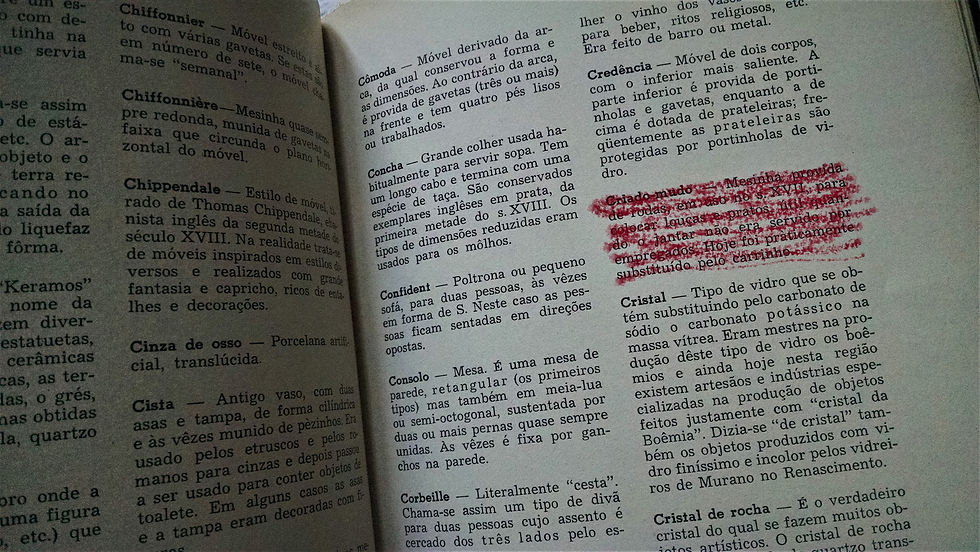
Na escola, geral odiava análise sintática, regência nominal, conjugação verbal, ortografia; a queridinha era a etimologia, que nem constava do currículo. Ao contrário duma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio, as origens vocabulares se prestam a bons você-sabias e boas risadas. Ali pelos meus quinze anos, idade quando se é antropólogo e explorador da própria cidade, me entreguei a verdadeiro tráfico etimológico de topônimos, sobretudo os dos recônditos mais enlameados. O Viaduto dos Cabritos era corrupção de Viaduto Oscar Brito; Realengo vinha dum abreviado Real Engenho em placas de ônibus; a Ilha de Guaratiba (que, afinal, não é ilha) se explicava como terras do William de Guaratiba; Inhoaíba, essa pertencia ao Nhô Aníbal; Benjamim do Monte, ao francês Benjamin Dumont; Paciência explicita aquilo que o trem precisa ter pra chegar até lá. O étimo parecia tanto mais crível quanto mais cômico. Da lista que coligi, depois descobri que o único verídico era Pavuna, “terra sem luz”.
A etimologia anedótica é irmã colaça das lendas urbanas. É historinha que atende aos nossos anseios otarianos mais profundos. Dentro do Fofão há um punhal, em Campo Grande um louco infecta transeuntes com agulhas aidéticas e Inhoaíba imortaliza o Nhô Aníbal. Até gente marota em sociolingüística se deixa engabelar por um bon mot etimológico. O mesmíssimo professor que, vendo tabuleta de camelô em Madureira anunciando “oclos”, faz referência ao Appendix Probi acreditava na lenga-lenga do ônibus Real Engº. Nem filólogo resiste aos encantos de caô etimológico.
O bípede implume tem tara de entender; não tem é de pensar. O trovão é São Pedro arrastando os móveis e Ilha de Guaratiba é por causa do William de Guaratiba. Os esforços desguiados em explicar a origem das palavras são tão comuns que não apenas existe nome técnico para isso (pseudetimologia ou etimologia popular), mas se tratam também de processos que chegam a perturbar a própria evolução vocabular: o latim veruculum virou “ferrolho” por influência de “ferro”, uma vez que v latino não se transforma em f português. Uma das muitas coisas que não depõem em prol da inteligência humanóide foi a pá de tempo que se tomou para se descobrir que, de longe, o principal mecanismo de mudança vocabular são leis fonéticas, cujo funcionamento é mais mecânico que semântico – p. ex., queda das consoantes sonoras simples intervocálicas na passagem do latim para o português: velu(m) > véu, caelu(m) > céu, tela(m) > tea > teia, salire > sair, cadere > caer > cair. O método etimológico privilegiado durante a Idade Média e mesmo além foi a interpretação analógica ou alegórica – a palavra nunca é um signo de todo abstrato, mas contém em si uma referência legível ao próprio objeto ou a uma sua essência.[1] Exemplificando com um Isidoro de Sevilha aleatório: “A formiga chama-se assim, porque carrega migalhas de farelo” (Formica dicta, ab eo quod ferat micas farris.) Em certo sentido, as etimologias populares para os nomes de bairro compartilham desses arrazoados analógicos, pelos quais o topônimo tem de conservar o nome dum figurão. Também poderíamos acrescentar as cosquinhas intelectuais que causam aquela retroprojeção de mecanismos lexicogênicos tipicamente contemporâneos como siglas: quem não ouviu e não acreditou na anedota do fuck como “fornication under consent of the king”?
Na Era de Aquário, no Terceiro Milênio, no Século XXI sobrevivem infindos Isidoros de Sevilha. Num livro sobre umbanda leio: “O vocábulo UMBANDA é oriundo do SÂNSCRITO (a mais antiga língua da terra – raiz mestra dos demais idiomas existentes no mundo), que se pode traduzir por: ‘DEUS AO NOSSO LADO’ ou ‘O LADO DE DEUS.’”[2] ENTENDEU, SEU BURRO?!!! UMBANDA VEM DO SÂNSCRITO!!!! Na Oxford Fluminense, ouvi uma nulidade docente filologar a sangue frio: o páthos da tragédia grega vinha da postura tensa da platéia (não gar...) como (...ga...) um (...lhe) pato – isso, a ave que faz quá-quá e vive na lagoa (ou no forno). Talvez pelos ares intimidadores de professorinha primária, ninguém contestou; mais provável foi ninguém ter achado o étimo absurdo. Da mesma forma que tem gente que mente sem se aperceber, tem gente que inventa etimologia no calor do momento.
Até pouco se acreditavam nessas lérias etimológicas pelo puro gosto de rir e de debochar do coleguinha igualmente mora-mal. Hoje a pseudetimologia é uma arqueologia de colher de festa infantil e língua-de-sogra para desentocar alicerces de preconceito e opressão. Com pouca ou nenhuma razão, a galera encrespa (taí mais uma pro expurgo) com certos vocábulos, mas, ao menos, sempre supus apenas combustão de burrice espontânea. Agorinha mesmo descobri que puseram no índex “criado-mudo”. Surfava alto as ondas do rádio na transmissão do Malasartes Podcast quando o outro astro que apresenta o programa, Péricles de Morais, me contou, com certo ceticismo, que a palavra foi estigmatizada por se reportar aos escravos: o criado-mudo teria substituído os escravos que ficavam a postos na cabeceira dos senhores e, para não aporrinhar iaiá e nhonhô com tagarelice, tinham a língua cortada.
No sétimo lustro de vida e na sétima garrafa de Brahma, minha perspicácia estava abaixo da lesice meridiana, o eletroencefalograma já dando rasantes pela morte cerebral plena e plana, mas engrolei resposta que perpassava furores glossocatárticos e mitificações do escravismo. Geralmente a mitificação do escravismo é negativa, o que continua sendo ruim para o historiador (obviamente seria pior se a mitificação fosse positiva). Não há casarão velho cujo porão não seja retrofitado em senzala. Já li relatório de órgão patrimonial descrevendo o porão da arruinada Fazenda Engenho Novo são-gonçalense como senzala. Não era preciso conhecer história brasileira (ou antilhana, ou estadunidense) para saber que a senzala não ficava na casa-grande; bastava ler o inventário do Barão de São Gonçalo. E, ainda assim, órgão patrimonial... Na memória coletiva foram-se confundindo com senzalas os porões habitáveis mas não muito salubres dos sobradões citadinos, onde aí sim calhavam de morar os serviçais, livres ou não.[3] O caso do criado-mudo parecia, portanto, ter sido tocado por aquela varinha-de-condão na medida em que a violência histórica do escravismo vira causo macabro, contos-da-cripta de puro sadismo, tipo de narrativa, aliás, que tinha voga até durante o próprio escravismo entre a classe senhorial.[4] O étimo proposto para criado-mudo também passava por cima do fato de que os escravos da casa-grande – as mucamas – estavam em posições sociais superiores aos dos escravos do eito. Na bruma etílica, pior ainda bruma de Brahma, dumb me, recordei que o inglês tinha palavra similar com dumbwaiter, aquele elevadorzinho de comida que vemos em filmes: embora não seja a mesma coisa, a lógica do nome parecia transparente como criado-mudo – é um implemento do qual as pessoas se servem sem criados. Por fim, a fulminação dum objeto trivial com um nome trivialmente óbvio a partir duma explicação sócio-histórica-justiceira soava-me típica do tsaigaiste operístico. Então, só na maciota do aprióri, cafunguei no étimo perverso a marola de beque de besteirol.
Eu sou mor otário. Sempre fui. Por isso é difícil me enganar. Por isso é que percebo logo conversa-pra-boi-dormir. (Também não leio jornal. Por isso é que sou bem informado sobre o que vai acontecer.)
Minhas suspeitas sobre o étimo ser pura cagação-de-goma provaram-se sólidos toletes. Acabei de voltar do Real Gabinete, o de Leitura, não o de Cagada. Nem o dicionário etimológico de Antenor Nascentes, nem o de José Pedro Machado, duas grandes obras de referência, abonam o verbete “criado-mudo”, o que provavelmente fariam houvesse qualquer etimologia escabrosa ou apenas complexa. Na edição resumida de Nascentes, de 1966, aparece: “Por afetividade; presta serviços sem falar.” A sexta edição do dicionário de Antônio de Morais Silva, de 1854, tampouco averba. O Houaiss data criado-mudo a 1899 por referência ao dicionário de Cândido de Figueiredo e remete a mesinha-de-cabeceira. A referência mais antiga que encontrei, mediante a Hemeroteca Digital, foi no Jornal de Comércio de 1844.[5] Aí um leilão da inglesíssima casa Cannell & Howell anuncia, entre as tralhas, “estantes para música (criado mudo)”. Considerando a influência de comerciantes ingleses e franceses no lar burguês do Brasil oitocentesco, é bastante provável que o criado-mudo designou uma série de móveis, como mostra a citação do leilão, até o sentido se estabilizar no que conhecemos também como mesinha-de-cabeceira ali pela segunda metade do XIX. No próprio inglês, um dos sentidos originais de dumbwaiter, atestado em 1737 pelo Merriam-Webster, é o de mesinha portátil. Outro, atestado em 1755, segundo a primeira edição revista do Oxford English Dictionary, era “an upright pole bearing one or more revolving trays or shelves”; o elevador aí é dado como americanismo de meados do século XIX.[6] Existe ademais um porrilhão de móveis que. nas línguas européias, rondam o campo semântico de “criado-mudo”. A trapizonga que serve para pendurar roupa masculina e que no português se chama “valete-de-roupas” (valete é criado também) existe no italiano como servo muto e no alemão como Stummer Diener, Stiller Diener e Stummer Butler, que, em suma, vêm a ser memamerda. Etimologia assim começa a ficar chato, né? Ou se cortou mais língua da criadagem, metropolitana e colonial, livre e servil, durante o XVIII e XIX do que barbatana de tubarão para o Nutrishark, ou... etimologia assim começa a ficar chato, né?
Eu sou mor otário. Sempre fui. Por isso é difícil me enganar. Mas devo admitir que fui pego com as calças-na-mão e a bunda suja sobre o grau de empulhação do étimo. Em vez da brasileiríssima burrice espontânea, tratava-se duma safadeza niponicamente engenhada.
Em pleno Dia de Zumbi/Consciência Negra de 2019, a Etna, nenhuma marcenaria da Rua Frei Caneca, lançou na internete um comercial sobre o criado-mudo. Plano-médio, palco soturno, som de tambores étnicos que é pra remeter à África mas me recordam os taikôs japoneses – e ele, o criado-mudo, sonso como brotinho sessentista de biquíni de bolinha. Diversos cortes de homens e mulheres negros vindo sentar-se inocentes ao lado do malévolo sanguinário móvel. As pessoas, com arrevesado sotaque paulistano, leem a sinistra história do psicopático móvel, que não se ruboriza na sua inexorável cara-de-pau. A história começa num ano preciso: 1820. Só esqueceram de informar o dia, o lugar, a hora e a direção do vento.
– História pesada – engasga um sujeito ao ler o trecho das línguas decepadas.
Após as reações das pessoas, ligeiramente constrangidas, não se sabe se à vera ou à minta (o móvel continuou indiferente), cartelas de responsabilidade social:
A Etna está começando a abolir o termo criado-mudo de todas as suas lojas.
Compartilhe essa história e motive outras pessoas a chamarem esse móvel de mesa de cabeceira.
Depois falam que eu é que sou debochado. Compartilhe meu blogue e motive outras pessoas a me chamarem de Senhor Fodão.
Tirando tortura contra animais felpudos e o sucesso dos Barões da Pisadinha, nada mais neste lado da galáxia me choca. Mas fiquei chocado com esse comercial fraudulento. Qualquer otário dente-de-leite sabe que a função precípua da publicidade é mentir, inclusive quando fala a verdade: em filmete, Thomas Alva Edison eletrocutou elefante para mostrar os perigos da corrente alternada, a onda da concorrência. Liberal até enquanto me achava comunista, nunca peço para prenderem, censurarem, cancelarem, boicotarem, enviarem para a Fossa das Marianas quem diz coisas (a mim) odiáveis, mesmo quando vêm com perdigotos. Mas tenho de exortar as massas a irem arremessar cocô de urubu que comeu carniça de gambá nesses publicitários fidaputas. O anúncio fabricou uma história da nossa escravidão para moralizar o nome dum móvel só para vender a mesma coisa mais e mais. (Ponha os itálicos onde quiser, ponha caixa-alta, ponha tudo na porra toda.) É fraude do início ao fim. Vender bilhete de loteria premiado está mais longe do Código Penal. A leviandade com a qual se manipulou o passado escravocrata deveria ter provocado uma estrombólica erupção de protestos contra a Etna. O faz-de-conta publicitário tem limites. Casillero del Diabo conta uma lorota como se fosse lenda, mas não causa mais que um arrepio de bocejo. Forjar passado de dor para se apresentar como anjo revisionista é patifaria demais. Daqui a pouco a IG Farben vai falar que sabotou o Holocausto: pôs pó-do-pirlimpimpim no Zyklon B, que, em vez de asfixia, curava bronquite; a azeitona é que matava. Daqui a pouco vai ter comercial dizendo que “cerveja” era o nome duma tortura infligida aos indígenas (que consistia em forçá-los ingerir milho líquido até começarem a cacarejar) e, para superar esse legado de violência, faz a campanha para que a bebida se passe a chamar Glacial. Não peça cerveja, peça Glacial! AF+FGR Publicidade
Não explodiu nenhuma Krakatoa contra a Etna porque, mesmo entre os mais rábidos anticapitalistas, uma lacraçãozinha vocabular sobrepuja hoje o mais elementar instinto cabreiro contra a publicidade. A Etna teve é muitos laiques. Por isso é que o capitalismo persistirá aí firme e forte, são e salvo, rápido, ligeiro e faceiro uns trinta ou quarenta éons pra cima. O comercial da Etna deveria ser o exemplo que a galera empenhada em derrubar o Sistema viveria brandindo, pra falar igual a todo bom stalinista, como símbolo de decadência sentimentalóide da pequeno-burguesia e da manipulação hipócrita capitalista. Contudo a aldeia patal da internete, a rede mundial dos otários, fez exatamente o que a Etna queria: compartilhou o anúncio. E os culpados não foram só os otários amadores, mas também os otarianos profissionais (às vezes chamados de “jornalistas”) que deram publicidade grátis para a Etna em veículos descoladinhos e contestadores como Catraca Livre, Universa e, pasmai, até a Carta Capital. É, o Sol vai apagar, mas a Nasdaq continuará o pregão. E pior é que agora calha de ter gente vindo te queimar com magma e enxofre acaso você chame o criado-mudo de criado-mudo porque tu, que é mor otário, não escorregou ribanceira abaixo no quiabo publissensionalista da Etna. Uns justiçaram o dicionário, outros compraram muitas mesinhas-de-cabeceira e a Etna encheu a cratera de capital, monetário e simbólico.
Sinceramente eu não sei mais o que fazer com este planeta. Quer dizer, até sei, mas não disponho dos códigos atômicos do Pentágono nem da chave-mestra do depósito da Biopreparat.
Coronavírus, tome posse! O Brasil é teu!
Seu bando de otários...
[1] Cf. ROBINS, R. H. A Short History of Linguistics. Londres: Longman, 1997, 4ª ed, pp. 29-30; BLOOMFIELD, Leonard. Language. Nova York: Hold, Rinehart and Winston, 1961. [1933], p. 15.
[2] GUIMARÃES, Edir Rosa; LIMA, Almir S. M. de. Universidade de Umbanda: Mestrado I. Rio de Janeiro: EDC, 1991, p. 26.
[3] SANTOS, Paulo. Quatro Séculos de Arquitetura no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1981, pp. 51, 71.
[4] Como lembrava Ciro Cardoso, até historiador tentou aplicar o modelo de Goffmann de hospitais psiquiátricos às plantations: “muitos autores não tratam as sociedades escravistas como verdadeiras sociedades, e sim como uma espécie de campo de concentração generalizado.” CARDOSO, Ciro Flamarion Santana. Escravo ou Camponês? O proto-campesinato negro nas Américas. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 59.
[5] 11/12/1844, p. 3.
[6] Cf. Dicionário do Antiquariato. Buenos Aires: Codex, 1968, p. 23.




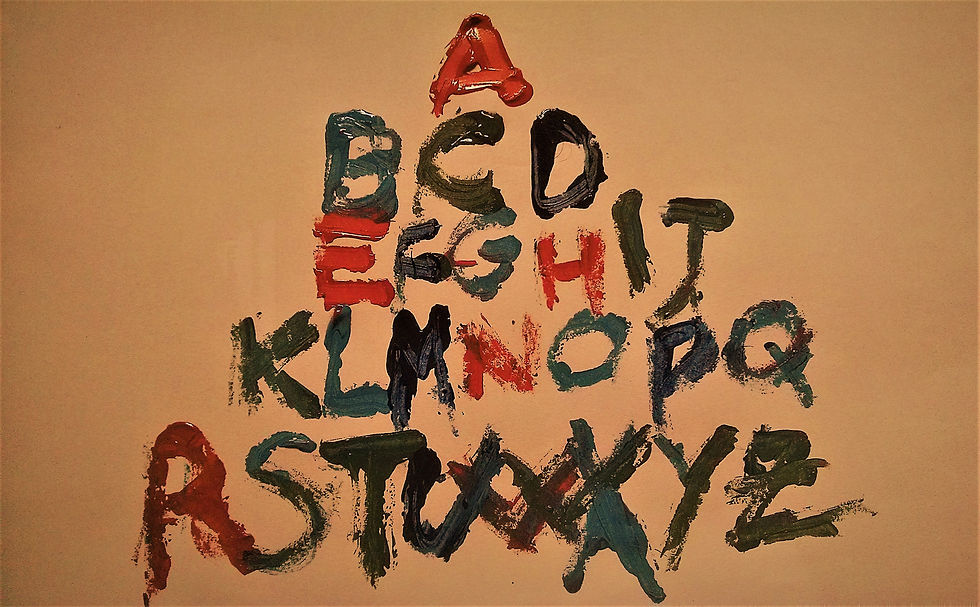
Comments