Teje Preso, Dicionário!
- Álvaro Figueiró

- 2 de set. de 2020
- 24 min de leitura
Atualizado: 2 de set. de 2020
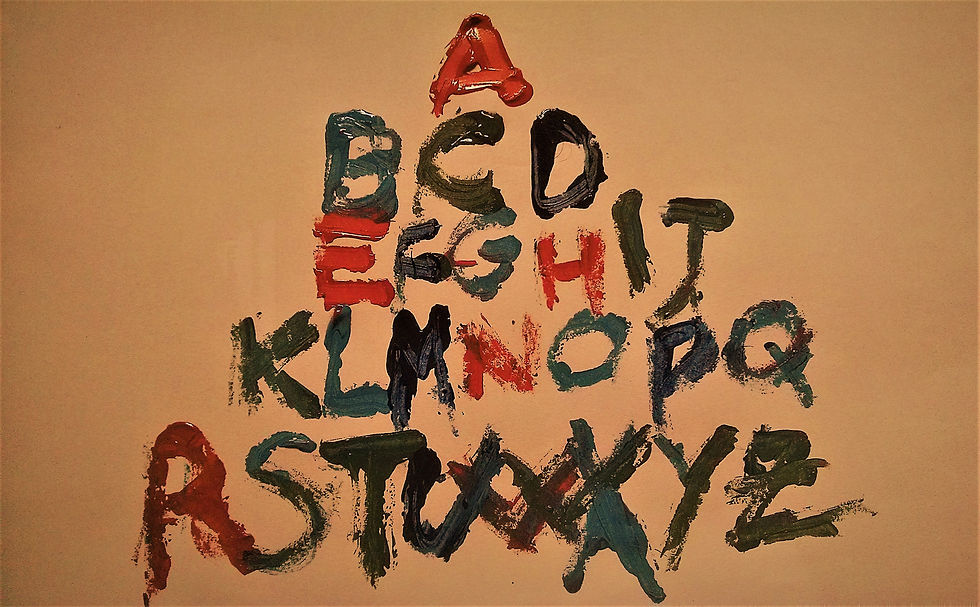
Catarine Stephanopoulos, Pirâmide Alfabetária
1. Os pobrema. Há uns anos atrás, certo procurador federal expediu mandado de prisão ao Instituto Antônio Houaiss, o responsável pela coisa mais monumental que jamais se produziu na lexicografia em português. O crime do dicionário foi ter registrado um dos significados do verbete “cigano” como “aquele que trapaceia; velhaco, burlador”. O procurador, com toda sua sabença, detectou preconceito lingüístico dos lexicógrafos e exigiu, sob pena de jaula, que os responsáveis pelo dicionário suprimissem a averbação pejorativa. A ordem do Seu Doutor Procurador do Index Verborum Prohibitorum também foi berrada a outros dicionários de menor vulto, que pipocaram e retiraram o verbete, consagrando assim a chegada da Inquisição Vocabular às Terras de Santa Cruz para maior honra e glória da justiça social. Como nossos procuradores não podem ser processados por litigância de má-fé, fica nisso aí mermo. (Cada vez mais anseio pelo Antigo Regime, quando os figurões que ocupavam cargos de poder não se preocupavam em mostrar serviço, apenas encher a burra.) Que o despautério, tenha sido perpetrado não por um cachaceiro em mesa de bar mas sim por um procurador federal em mesa de trabalho, não na Islândia, com seu homicídio biânuo, mas sim no anômico, selvático Brasil-sil-sil, isso só ilustra o atoleiro intelectual em que vivemos. O procurador federal chegou a um dos pináculos da carreira jurídica sem entender os propósitos dum dicionário. Mas esse prato bem brasileiro que leva arrogância, incultura e indignação não mais é preparado em tacho de cobre em fogão a lenha, mas sim na mais gurmetizada cozinha do século XXI. Pelo vidro-fumê, podemos ver o prato da maçaroca num giro lingüístico. De todos os cacoetes que vêm minando o racionalismo a duras penas conquistado, este, de longe, é o mais pervasivo e o mais daninho: sim, o giro lingüístico.
Por giro lingüístico entende-se sumariamente a reorientação radical das humanidades a partir da década de 1970 para a conceptualização do real como discurso, como texto. No limite, defende-se que o real é inacessível por causa da barreira da língua e o único objeto passível de reflexão seria a própria língua. Em versão menos radical, o real é inacessível por causa da impossibilidade de se discriminar a verossimilhança entre os diversos discursos (o próprio método experimental perde seu caráter veridictório e torna-se mero discurso). É tributário do giro lingüístico aquele absurdo que hoje se diz como platitude, “A verdade não existe.”, os mais sofisticados acrescentando “Só há discursos” (quando isso é postado no Facebook por um iPhone deve tratar-se então duma conspirata discursiva, parapsicológica até, entre Zuckerberg, Jobs, Bell, Maxwell, Galvani etcétera). Na era da neurologia, o giro lingüístico é um empiricismo bem retardado.
É verdade que a perspectiva da língua como filtro da realidade não é nada nova. A maiêutica partia do pressuposto de se dissecar os sentidos das palavras comuns antes de qualquer filosofia séria. Boa parte dos primórdios da historiografia científica passa pelo desenvolvimento da crítica textual, cujas metas eram tanto restituir a fonte à sua forma primitiva, livre de adulterações introduzidas por copistas, quanto sopesar a veracidade dos testemunhos. Ou seja, quase dois séculos antes do giro lingüístico, os historiadores assumiam que os fundamentos científicos da sua disciplina repousavam sobre a decodificação minuciosa das intencionalidades camufladas no texto. Curiosamente o giro lingüístico emergiu justo quando se foi consolidando entre os historiadores mais jovens a noção de que só as múmias se dedicariam à crítica textual.
O giro lingüístico poderia ser relegado a categoria das idéias instigantes, como o solipsismo deísta de Berkeley ou a cinemática angélica de São Tomás de Aquino, mas de escassa aplicação prática. Por prática entendo mesmo “prática acadêmica”, pois suas premissas não têm aplicação relevante na lingüística, na filologia, na filosofia da mente ou na sociologia. No entanto, como quase todas as idéias, ou antes, pior ainda, teorias de jerico ultrarrelativistas e irracionalistas que se propuseram no século XX, o giro lingüístico passou, duma forma ou doutra, a integrar a mundivisão daquela figura que se passa como inteligente e dá o tom do debate público, o semiletrado. Junte-se o giro lingüístico com o furor moralista, o individualismo neurótico, o ululante tribalismo e o anticientificismo sonso e esteja certo de a reflexão sobre o nexo entre língua e sociedade ficar descabida.
Como a sociolingüística é campo complexíssimo, que pressupõe erudição, o semiletrado procura dar profundidade à sua interpretação rasteira de como a sociedade funciona a partir de anedotas teoréticas. Difunde-se assim cada vez mais a crença de que a língua é um palco importante onde se dão as relações de poder, cujo corolário extremo mas corriqueiro é que para se reformar a sociedade é preciso antes se reformar a língua. Dos toscos jogos infantis em disputar, meninos vérsus meninas, a coleção de objetos de mais valia (o sorvete, a festa) e das descobertas pubescentes sobre o paradoxo de Epimênides e sobre as inconsistências lógicas da língua (“Eu não vi nada”), agora adultos pançudos, celulitosos ou carecas continuam brincando de sopa de letrinha, mas para textões de crítica social.
Há duas variantes dessa crítica social pela língua: uma mais razoável que se contenta com o léxico e outra absolutamente tresloucada que ataca a própria gramática.
2. Palavras feias. A manifestação mais corriqueira do semiletrado do giro lingüístico é o censor lexical. Não contente em fulminar palavras que todos sabem que costumam soar pejorativas, esse sujeito brinca de filólogo e desentoca nas mais triviais palavras sentidos escabrosos, sinistros, pérfidos. Deve haver algo de muito arrogante no gosto em desmascarar significados profundos em vocabulários do cotidiano; pressupõe inteligência acutíssima, além do faro moral superior. Não há, porém, como negar que a tabuização vocabular sempre existiu e continuará existindo. Ela nada mais é do que uma das facetas da sociogênese do indivíduo (aqui não tire meleca do nariz; ali não calce chinelo; sente-se aprumado; trate esta pessoa com respeito; não fale que sua avó morreu, mas que partiu). O que talvez seja novo é tabuizar-se palavras por força de etimologias delirantes ou opacas e implicar-lhes juízos de valores que não estão presentes.
Lembro-me, mal entrado na Oxford Fluminense – cujo lema poderia ser “A inteligência a serviço da burrice” –, alguém vir incriminar o verbo denegrir como racista. Na época julguei delírio idiossincrático, o que tem lá sempre seu mérito, mas hoje a reprovação de denegrir tornou-se corrente. Falta bastante senso interpretativo aí: primeiro, por presumir que todas as menções a negro ou preto se prendem a cor de pele e não a outros conceitos (alguns, aliás, que negativam também a cor branca como Fulano passou em branco); e por desconsiderar que o étimo da palavra, o latino denigrere, exclui a palavra do âmbito da escravidão atlântica. Mulato tem sido rechaçado, entre outras razões, pela súbita lembrança de que o étimo deriva de mula. Contudo a etimologia não é de todo transparente e, ademais, a própria comparação que depreciaria o mulato tampouco seria lisonjeadora para os europeus (presumia-se que a prole entre brancos e negros seria estéril como a entre cavalo e burro, assim corre a explicação mais usual, que, aliás, pode bem ser pseudoetimológica).
Na verdade, o que determina o sentido pejorativo da palavra é o uso, não o étimo nem mesmo o significado intrínseco. Ótimo exemplo disso temos na evolução de crioulo, sem dúvida hoje uma das palavras mais tabuizadas no português brasileiro, pelo menos no carioca. Originalmente crioulo era adjetivo para designar algo local, regional, nacional (cognato a idéia de criar, por trás também de criança e criado), donde se falar em dialetos crioulos. Nesse sentido, no Rio Grande do Sul ainda se diz cavalo crioulo, dança crioula ou cigarro crioulo, quer dizer, cavalo gaúcho, dança gaúcha, cigarro gaúcho. O espanhol ainda conserva o adjetivo nesse sentido originário. Nas classificações nativas do escravismo, os cativos dividiam-se em africanos ladinos (falavam o português), boçal (ignoravam o português) e crioulos (nascidos no Brasil). Em tal hierarquia escravista, cabia ao crioulo a posição superior, por mais próximo à cultura luso-brasileira. Como era positivada (ou, para ser mais preciso, era menos negativada), crioulo difundiu-se como a palavra para designar o negro, termo que trazia certa sinonímia com escravo.[1] O que determinou que a palavra se tornasse ofensiva foi associá-la a contextos ofensivos: quando se faz questão de recordar a cor da pele da pessoa sempre e tão-somente quando há intenção de ofender, ainda mais num país onde a etiqueta tradicionalmente exigia que se escamoteassem referências raciais diretas. Se nas brigas de trânsito, os racistas passaram a gritar afrodescendente ou negro, calha de a palavra se tornar ofensiva. Um xingamento é um xingamento é um xingamento... Curiosamente negro reemergiu como palavra positivada – decerto, por tornada pouco freqüente, passou a soar mais formal e mais neutra (note-se quão formal, mesmo estranho soa dizer uma estante negra, um celular negro).
Contextos reiterados, não o significado intrínseco, devem também explicar por que polaco e rapariga ganharam sentidos pejorativos, inexistentes em Portugal: ambas as palavras associaram-se à prostituição, rapariga no Nordeste (primeiro como eufemismo) e polaca no Rio por conta da grande quantidade do baixo meretrício na Zona do Mangue que se dizia oriundo da Polônia durante as primeiras décadas do século XX. Polaco ficou tão desgastado que se criou o novo gentílico polonês, ignorado pelos portugueses. Galego no Rio é pejorativo para português, no Nordeste designa a pessoa loura e em Portugal é moço de recados. Cada sentido regional corresponde a um contexto social específico a essas regiões.
Até as ciências sociais estão se submetendo a reformulações vocabulares não por necessidades do campo científico, mas por neurose lingüística. Substituição que vejo cada vez mais freqüente é escravizado no lugar de escravo. Chuto que isso foi idéia de antropólogo ou, pior, de jornalista. Se foi de historiador, o Conselho Regional de Historiografia vá lá dar uma moca no sujeito, pois não há ganho heurístico nenhum por se misturar o processo (escravizado) à condição (escravo), muito pelo contrário. Qual o propósito afinal? Reformar nossa sociedade ainda viciada pelo aristotelismo que julga a escravidão como estado natural? Isso é sério? Alguém realmente acredita que hoje, em 2020, se alguém deixa de reconhecer os direitos à liberdade duma pessoa ou dum povo, vai ser o raio da palavra escravizado que vai lhe abrir a consciência? (Como constataria o brilhante Noel Gallagher, é achar que o banqueiro japonês se sensibilizaria para com a dívida do Terceiro Mundo assistindo ao Live 8.) E de fato existem esses criptoescravistas inconscientes por aí? Se é para problematizar à vera então abandonemos logo todas palavras derivadas de escravo, cujo etimologia se prende a eslavo, povo escravizado a rodo na Idade Média por cristãos e muçulmanos e que até há pouco os nazistas estavam doidinhos para incinerar. Mas quem pontifica contra essa palavra vulgar escravo coloca-se num plano moral superior – pseudoproblematizando, imputam-se pseudoconcepções. Se você fala escravo, eu que falo escravizado posso te atribuir a bestial concepção de que você presume haver pessoas naturalmente escravas, logo chancela a escravidão – não importam os teus protestos, o endosso moral dos meus pares basta-me.
3. Gramáticas más. Mas, muito pior que a viagem na maionese filológica (ignoro a etimologia da expressão), é a piração na batatinha sintática (idem). No nível lexical, ao menos temos de admitir haver sempre conotação de sentidos neutros, positivos e negativos. Para a pirada de batatinha sintática, as concepções ideológicas não são plasmadas apenas nas palavras ou nos chavões, mas passam integrar a própria gramática. O caso mais comum hoje é denunciar o patriarcado escondido nos morfemas de gênero gramatical, suprimindo-os na escrita por um xis (xs alunxs, xs médicxs), que alguns, decerto inspirádis na prosódia do saudoso Muçum, enunciam como i (is alúnis, is médiquis). A difusão desse disparate exige atenção. No fundo se trata da versão politizada, pretensamente revolucionária, de concepções que já foram surradas pela lingüística. É preciso discuti-las um pouco. Desde já advirto que quando estiver falando de língua não abarco todos os fenômenos que um idioma comporta, mas apenas o aspecto estrutural, gramatical, sintático (langue no sentido de Saussure). Como logo veremos, a falta de sutileza em distinguir os vários níveis operacionais dum idioma é uma das razões que favorecem atribuição de sentidos sociológicos indevidos.
Antes que grandes novidades, a caça a preconceitos imbricados na gramática segue a senda da Hipótese de Sapir-Whorf, formulada na década de 1930, a qual por sua vez repisava o idealismo lingüístico do século XIX. Basicamente a diferença entre ambas as posturas decorre da hierarquia entre língua e ideologia: para a primeira, a língua determina a mundivisão; para a segunda, a ideologia é que afeta a estrutura lingüística. Karl Vossler, o campeão do idealismo durante o Oitocentos, por exemplo, procurou ver na difusão do artigo partitivo no francês durante os séculos XIV e XV a influência da mentalidade burguesa, mercantil; Gilberto Freire correlacionou o relaxamento da pronuncia brasileira e a preferência pela próclise, que ele via como menos autoritária, à formação patriarcal; e Lévi-Strauss devaneou acerca duma identidade entre as estruturas das famílias lingüísticas e as formas de parentesco.[2] Em casos extremos, negou-se a evolução genética das línguas em favor duma interpretação pela qual as famílias lingüísticas se correlacionariam com os diversos modos de produção. Assim haveria línguas feudais como haveria línguas capitalistas e comunistas, como defendia o geórgio Nikolai Marr e esse lysenkoísmo lingüístico se tornou, durante certo tempo, interpretação oficial na União Soviética. Ninguém menos que o compatriota supremo de Marr, Stálin, teve denunciar a porralouquice, observando que o russo do feudalismo, do capitalismo e do comunismo não passavam do mesmíssimo idioma, como, aliás, poderia constatar qualquer russo alfabetizado com acesso a um biblioteca escolar. Levar sabão de Stálin em matéria de teoria lingüística não é pouca coisa, não. Marr, pelo menos, não foi expurgado (teve o bom senso de morrer antes de 1936).
Evidentemente em certo grau a língua condiciona com suas categorias gramaticais, seu léxico, seus dêiticos, seus pronomes, seu sistema verbal, enfim com tudo que oferece, certo sistema classificatório implícito da realidade. Mas admitir que a língua é camisa-de-força do pensamento é o mesmo que tentar defender a astrologia apelando para a física. No português há finura nas distinções entre “ser”, “estar” e “ficar” que escapa a muitas outras línguas indo-européias, mas por outro lado o idioma não se preocupa, como o alemão, em distinguir se alguém se desloca a pé (gehen) ou de veículo (fahren) ou, como o fofoqueiro russo, se a pessoa só costuma dar uma passadinha de veículo (zaezdit’). Uma frase como Ele é louco pela negação de alternativa como Ele está louco possui intenção enunciativa que o inglês He is crazy só pode exprimir por circunlóquios. Contudo em inglês tais nuanças são também exprimíveis da mesma forma que em português podemos exprimir que se costuma dar uma passadinha de veículo na farmácia. Há línguas, como o malaio, que possuem uma primeira pessoa do plural inclusiva e outra exclusiva, um nós + tu/vós/ele/ela/eles/eles e um nós − tu/vós/ele/ela/eles/eles. Ninguém negará a utilidade desses pronomes. Imagine um representante sindical comunicando à assembléia operária os resultados das negociações com os patrões: “Nós consideramos que o acordo é insatisfatório”. Nós quem? Os operários? Os operários e os patrões? Contudo, se necessário, o esclarecimento também é perfeitamente possível em português embora em jeito não tão elegante nem sintético como em malaio. Há diversas línguas que operam uma distinção T-V, isto é, entre um tu informal e um vós formal. No português, sobretudo brasileiro, a distinção é algo atenuada, formas menos rígidas, mas em certos idiomas o uso inadequado é motivo de ofensa, senão porrada: tratar um russo que se acabou de conhecer por ty em vez de vy é o mesmo que alguém em português se endereçar a um adulto desconhecido em contexto formal como “ô, seu moleque!”
A língua para ser funcional, para exprimir uma multiplicidade de pensamentos precisa ser plástica, precisa ser a mais neutra possível. Noutras palavras, o conteúdo ideológico dentro da gramática é nulo. O emprego duma língua pode ser sim ideológico (p. ex., a imposição dum idioma nacional pela burocracia e pelo sistema escolar), mas não a sua gramática. O conteúdo neutro da gramática explica alguns fenômenos surpreendentes. Primeiro, o modo absolutamente espontâneo com a qual as crianças aprendem os idiomas maternos; segundo, a normalização que as crianças fazem, por conta própria, de pidgins – línguas de contato baseadas em frases feitas e escasso léxico – em idiomas plenamente funcionais.[3] Observando tais fenômenos que apontam para algum instinto lingüísitico é que Chomsky postulou sua gramática gerativa transformacional, que revelaria as regras basilares de todas as línguas naturais. Observe-se que a criança domina as regras da gramática muito mais cedo do que as regras de conduta social.
A existência do cordão umbilical entre língua e pensamento não implica, porém, em que ambos os processos sejam idênticos, mesmo quando admitimos a gramática universal chomskiana. Primeiro, porque as línguas não se comportam de maneira lógica (a tentativa de impor lógica a construções lingüísticas chama-se logicamente “logiscismo”[4]); segundo, porque na ordem da evolução biológica é óbvio que o pensamento precedeu a língua; terceiro, porque se criam linguagens artificiais (p. ex., a matemática, os operadores lógicos) justamente para superar as limitações das línguas naturais, que se embolam com certas idéias (p. ex., um enfiada de negativas ou dimensões espaçotemporais extras). Por outro lado, identificar língua a ideologia conduz a uma série de dificuldades insuperáveis, porque inatestadas pelo estudo diacrônico. Se existisse uma ideologia na língua, ou as mudanças sociais esbarrariam continuamente na gramática ou toda transformação radical da sociedade produziria um câmbio lingüístico igualmente radical, talvez a ponto de se produzir uma nova língua (corroborar-se-ia a teoria dos estágios lingüísticos de Marr). Se a língua carregasse em si essa bagagem ideológica sub-reptícia não seria de esperar que as mudanças lingüísticas fossem mais velozes ou que a difusão dos idiomas fosse muito mais lenta do que observamos? Ninguém negará que o capitalismo introduziu alterações radicais, entre elas uma nova concepção de tempo, pautada cada vez menos por ritmos naturais que por abstrações do cronômetro. Ora, dos idiomas europeus que conheço nenhum alterou substancialmente seus tempos verbais nos últimos três, quatro séculos. O inglês de Shakespeare, o espanhol de Cervantes, o português de Camões usam todos praticamente os mesmíssimos tempos verbais nos mesmíssimos usos que empregamos hoje no Twitter ou nas reuniões corporativas via computador. De fato, gramaticalmente o português pouco mudou desde meados do século XV. Mesmo a leitura da poesia trovadoresca de fins do Duzentos envolve mais dificuldades vocabulares que sintáticas. No entanto alguém acha realmente que nossas idéias sobre tempo e sobre relações de gênero são, setecentos anos depois, as mesmas dum cortesão do D. Dinis? Ninguém presumiria que um camponês trasmontanto do século XVI, um alto burocrata na prefeitura de Luanda em 2020 e um biscateiro carioca em 1823 compartilhem muita coisa entre si sobre como interpretam o mundo, mas todos empregam a mesma língua e, moderados o sotaque e o palavrório, todos seriam capazes de trocar seus leros.
Boa parte dos erros do idealismo lingüístico decorre de não se distinguir entre os diversos níveis da língua, naquele refinamento que o romeno Eugene Coșeriu fez da classificação de Saussure: sistema, norma e fala.[5] O sistema, numa definição grosseira, é a língua, é a gramática, ou seja, o conjunto de regras que basta à construção de todas as frases possíveis de certo idioma. Apesar das aparências, Ele cluiu o novo funcionário no grupo de trabalho in não é frase portuguesa. Peço ao leitor parar um instante e pensar como interpretá-la. A frase é incompreensível em português, pois na sua construção se aplicaram regras da gramática alemã, que exige certos prefixos verbais no fim da frase. A norma é a reiteração dalgumas possibilidades oferecidas pelo idioma. Em termos de norma é que se explicam variações prosódicas, vocabulares, frasais conforme classe social, profissão, até mesmo contexto (uma defesa de tese acadêmica presume norma lingüística reputada como formal, bem distinta da que será usada depois na bebemoração). A fala é enunciação do pensamento do indivíduo conforme o conjunto de sub-regras que caracterizam a norma.
É no âmbito da norma e da fala que se pode revelar uma dimensão sociológica. Não à toa é que as crianças, ao contrário das regras da gramática, demoram muitíssimo mais para aprender as regras da norma (quais palavras são “feias”, como pedir para ir ao banheiro, quando falar “obrigado”). Esse é um processo de sociogênese e, como tal, extremamente complexo, perdurando, em maior ou menor grau, por toda a vida ao passo que na aprendizagem do idioma materno basta a exposição da criança a gente falando. Certos neopentecostais reafirmam sua mundivisão religiosa ao pautar sua norma lingüística por torneios bíblicos, sobretudo vocabulares (p. ex., varão no lugar de homem). Em certos casos, essa norma é tão característica que, mesmo quando a fala não enuncia nenhum conteúdo religioso, o ouvinte identifica seu interlocutor como evangélico. A despeito disso, a ideologia religiosa desses neopentecostais não se reflete na gramática, que compartilha com lusófonos católicos, judeus, ateus, umbandistas, muçulmanos. Pela norma é possível inferir a classe social: no Rio de Janeiro, alguém que pratique o rotacismo em encontros consonantais como fl-, cl-, pl- (framengo, Cráudia) ou empregue o presente do indicativo no lugar do presente do subjuntivo (quer que eu faço) automaticamente reporta origens em classes populares. Em sociedades com estratificação muito consciente, como a Inglaterra, afirma-se mesmo que a questão de classe é questão de sotaque – até os oficiais de cavalaria deram um jeito de se distinguir do resto da elite por um ceceio recorrente.
Compare-se um tipo de explicação sócio-lingüística que passa pela norma e pela fala até desembocar na língua. A Revolução Francesa, subvertendo hierarquias sociais, levou a valorização de tudo que fosse burguês e popular em detrimento do aristocrático. Enquanto a fidalguia pronunciava conservadoramente o ditongo oi como [oj], a pronúncia corrente entre a massa parisina era [wa]. De tal forma a pronúncia aristocrática foi execrada, que, na restauração monárquica, o próprio rei Luís XVI achou melhor não arriscar soar esnobe e coroou-se não mais como rôi, mas ruá. A partir daí a pronúncia [wa] impôs como a correta. Nessa substituição, primeiro havia uma pronúncia específica à norma popular, discrepância que, cedo ou tarde, emerge em todas sociedades altamente estratificadas, onde os contatos entre certos estamentos são raros ou formalizados. O contexto revolucionário promove essa norma popular, ou antes, execra a norma aristocrática a ponto de o próprio rei preferir incorporar na sua fala a pronúncia inovadora.
De fato, desdos neogramáticos de fins do século XIX, parte das transformações gramaticais tende a ser interpretada como conseqüências das leis de mudança fonética. Como a língua é um sistema relacional, pequena alteração de pronúncia em certos contextos pode reformular a gramática inteira. Isso aconteceu com o latim, onde o enfraquecimento das consoantes que caracterizavam o acusativo singular causou uma confusão crescente entre os diversos casos e declinações a ponto de quase todos os idiomas neolatinos se terem tornado sintéticos. Outros processos de mudança sintática são a analogia, ambigüidades, reinterpretações, até o logicismo.[6] Mas repare-se que as mudanças na língua são de natureza formal, mesmo quando derivadas de mudanças que se explicam sociologicamente. Em certo sentido, é possível postular que a língua opera como sistema formal, como equação na qual variáveis produzem resultados determinados.
A Hipótese de Sapir-Whorf foi postulada a partir do estudo de idiomas de povos indígenas, cujas sociedades relativamente pequenas, pouco estratificadas e ágrafas oferecem a ilusão de que a cultura se reflete na linguagem e vice-versa. A partir da extrapolação errônea do vocabulário talhado ao contexto ambiental, derivou-se a identidade entre língua e cultura. O clichê citado em favor da Hipótese de Sapir-Whorf são as cinqüenta palavras para neve dos idiomas esquimós. Na verdade, trata-se de balela[7], mas, mesmo que não o fosse, só nos diria que um povo que vive em meio ao gelo vai desenvolver uma prática social e logo um léxico que presta muita atenção à neve. Os núeres, povo pastor do nordeste africano, são conhecidos por enorme riqueza para descrever o gado a ponto de o antropólogo Evans-Pritchard ter escrito que “Seu idioma social é um idioma bovino”.[8] Sociedades que vivem no deserto, como os paiútes do sudoeste norte-americano, tendem a possuir um inventário vocabular riquíssimo para descrever aspectos do habitat que escapariam à apreensão dum forasteiro.[9] Mas, afinal nas sociedades industrias, temos milhares de “sinônimos” para pedra, que obviamente só um geólogo conhece. Nada disso tem a ver com a gramática. Uma colônia de esquimó transplantada para Madureira rapidamente esqueceria todo o vocabulário glacial (aliás, alguém aí sabe o que é um caramelo ou um sincelo?)
Confessemos que o idealismo lingüístico tem muito borogodó. Que adolescente não leu horrorizado o apêndice de 1984 onde se descrevia um totalitarismo tão cruel que a novilíngua bloquearia até a idéia de liberdade? Derrapa no idealismo lingüístico até mesmo um dos maiores historiadores brasileiros do século XX, marxista ferrenho adversário dos pós-modernos e dos relativistas,. Ciro Cardoso procurou exemplificar a anterioridade da concepção espacial à temporal mencionando que as línguas de que temos os mais antigos registro, como o acadiano, o sumério, o egípcio e o eblaíta, tendiam a especializar o tempo: no egípcio predominaria sobre o tempo verbal o aspecto, isto é, não a posição da ação num contínuo temporal, mas se ela foi concluída, se está começando, se é reiterativa etcétera.[10] Ora, há duas caneladas aí. A primeira é que a escrita é fenômeno recentíssimo na evolução cultural humana, logo inútil para traçar qualquer cronologia se a concepção de espaço é anterior à do tempo. A segunda é que até hoje diversos idiomas continuam empregando o aspecto, como o russo, com sua insistência em pares perfectivos e imperfectivos. Por empregarem o egípcio e o russo aspectos verbais, o felá vendo a colheita crescer para pagar o tributo faraônico tinha a mesma concepção de tempo que o cosmonauta cabreiro se o painel da nave vai entrar em curto-circuito?
4. Crítica da crítica da linguagem de gênero neutra. Anos atrás, quando informado durante meu cursinho de latim fundo-de-quintal que o Centro Acadêmico de Uffogrado, fanal dos operários e camponeses, tinha tascado xis no morfema de gênero. Explodi:
- Ótimo! Agora não teremos mais violência contra a mulher por causa do xis. Agora teremos igualdade salarial por causa do xis.
E, pegando o giz, neologizei para superar de vez o milenar patriarcalismo, brochando o pênis e o escroto: heteroclitóris (sacrificando a etimologia, depois mudado para alterclitóris) e exovário. Quem tem vezo para jogos verbais, vive nos tempos certos, pois agora há demanda não só por palavras novas na sua obsolescência programada, mas também morfemas novos, logo, por que não?, até tempos verbais.
Se a censura lexical, com mais ou menos razão, costuma encrencar com palavras associadas ao racismo, a pastagem dos idealistas lingüísticos pós-modernos é o gênero. Há três razões: a centralidade que o debate sobre relações de gênero tomou; o antirracionalismo com que esse debate é travado, paradoxal conseqüência duma sociedade liberal em que os papéis sociais, inclusive os de gênero, não são mais tão cogentes; e por ser o gênero gramatical freqüentemente a única coisa na língua que parece espelhar alguma relação social. O movimento por uma língua de gênero neutro abrange diversas línguas faladas no Ocidente, inclusive aquelas a presença de gêneros gramaticais é muito tênue. A ilusão dos seus proponentes é similar à dos esperantistas e outros advogados de línguas universais que acreditavam que não haveria mais guerras se a Humanidade falasse um único idioma.
Em primeiro lugar, o gênero gramatical não é um sistema lógico de categorização sexual. De fato há idiomas em que o gênero nem de longe se liga ao sexo, como o haida, língua indígena da América do Norte, que conta com nada menos do que 36 gêneros, um dos quais designa a classe dos filamentos![11] No próprio português, o gênero dos objetos é dado muito mais pelas terminações (a cadeira, o copo) ou pela etimologia (o problema, masculino pois o étimo grego é neutro e o neutro normalmente se converte em masculino em português) que por uma concepção animista do mundo que cinde objetos possuidores duma masculinidade ou duma feminilidade. Se porventura existiu no indo-europeu alguma classificação sexual e animista do mundo que acabou por atrair morfemas específicos às raízes vocabulares, a diacronia solapou essas relações, que, quando se conservaram, se desarmaram num mero sistema de concordância gramatical. Como bem observou um dos pioneiros da lingüística no Brasil, Matoso Câmara: “Temos o caso típico do alemão, por exemplo, que possui os três gêneros – masculino, feminino e neutro – em bases muito parecidas com as das antigas línguas indo-européias. Concluir-se-á que o alemão está mais ligado à antiga mentalidade cultural indo-européia do que nós outros?”[12] O gênero primitivo passou a prender-se aos substantivos quer por inércia, quer se normalizou com a terminação, quer se alterou por outras razões. No latim as árvores, embora femininas, tinham terminações da segunda declinação, logo dos substantivos masculinos por excelência (alta pinus). Na passagem para o português, esses substantivos femininos quase sempre se tornaram masculinos em conformidade com o que a terminação dava a entender. Lógica similar atuou sobre os neutros: os verbos eram encarados como substantivos neutros – vivere bonum est – que, por conta das semelhanças das terminações, produziu em português adjetivos masculinos para esse mesmo tipo de construção, viver é bom. Na mesma linha, podem-se explicar certas sobrevivências do neutro que no português tem cara de masculino: isso é bom, nada foi concluído, tudo será feito. Em latim mare e dolor era respectivamente feminino e masculino; no português arcaico ainda se dizia a mar e o dor, mas, por algum motivo, as palavras passaram a soar como se os gêneros lhes fossem inadequados (o mesmo ocorreu com cor e flor). A adequação do gênero à fonética fica explicitada quando consideramos a importação de palavras estrangeiras, seja de línguas que não marcam o gênero no substantivo, seja de línguas em que o gênero é diferente do empregado em português: falamos o mouse, o tablet, a internet e a thread; a maior parte das pessoas diz a Bauhaus e a Blitzkrieg quando, em português, ambos deveriam ser masculinos.
Um dos argumentos correntes pela língua neutra de gênero é que, nas generalizações, idiomas como o português usam o masculino plural, o feminino plural sempre implicando uma restrição. Sem dúvida é assim e talvez seja sobrevivência de tempos, não muito distantes, quando o mundo masculino dominava de tal forma que os pescadores, os magistrados, os ladrões, os engenheiros, os professores, os trambiqueiros eram todos homens enquanto mulheres eram costureiras, donas-de-casa, bruxas e olha lá. Um dos princípios básicos da comunicação é a eficiência. Quando as mulheres passaram a ocupar cada vez mais espaços e sua posição social a equiparar-se à do homem, o uso do masculino, singular ou plural, simplesmente foi sendo assimilado a um meio rápido de designar todos os membros duma classe: O aluno deve trajar uniforme é um comando que, há muitas décadas, presume dirigir-se a todos, homens e mulheres. Se for direcionado a um dos sexos, haverá ou circunlóquio ou especificação do feminino. É convenção, decerto refletindo um passado em que a equiparação da posição da mulher à do homem se fez aos poucos, mas hoje essa convenção é, por um lado, amplamente entendida como tal e, por outro, não deteve as mulheres (nem os homens) na luta por igualdade.
Afinal no que diabos a língua interferiu na luta das mulheres por igualdade? Até onde sei o que importou foram educação, acesso ao mercado de trabalho, sufrágio universal, isonomia, transformações na economia em que o trabalho braçal reduziu de importância, métodos anticonceptivos, planejamento familiar entre porrilhões doutras causas. O reflexo dessas conquistas nos idiomas foram não mudanças gramaticais, mas normas discursivas que paulatinamente não admitiam mais como razoáveis, mesmo entre homens, enunciados como Lugar de mulher é na cozinha; Quando homem fala, mulher cala; Mulher gosta de apanhar; e a minha favorita “It will be years – not in my time – before a woman will become Prime Minister” (Margaret Thatcher, 1974). A mudança nas relações de gênero afeta também outros níveis da norma discursiva: o galanteio no ambiente de trabalho é equiparado a assédio. Cria-se uma nova etiqueta lingüística para a relação entre os sexos. Não necessariamente o domínio dessa etiqueta pressupõe boas intenções e vice-versa.
A tirar por esse entendimento maluco do gênero gramatical de broderagem com o patriarcado, era de se presumir que um idioma como o inglês, no qual o gênero é vestigial, produzisse de per si sociedades onde a situação entre homens e mulheres é mais parelha. No alemão, o gênero é bem marcado, mas o artigo definido plural (die) e a terceira pessoa do plural (sie) só existem numa forma idêntica ao artigo feminino singular e do feminino da terceira pessoa do singular: forçando a barra, em alemão “os homens” é “a homens”. Qual o impacto dessa maçaroca nas concepções de gênero dos alemães (e das alemãs)? Decerto nenhuma. Ignoro de todo o árabe, mas palpito que não haja nada no idioma que mantenha o esculacho contra as mulheres sauditas. Num dos países mais igualitários em questões de gênero, a Suécia, a tentativa recente de introduzir um pronome neutro foi rechaçada, pois até isso pareceu excessivo às ibsenianamente atormentadas consciências escandinavas.[13]
Quanto mais se reflete, mais se assombra com o absurdo, com a absoluta perda de tempo daqueles que insistem em construir uma língua neutra de gênero em vez de irem debater-se por causas racionais pela igualdade de gênero (e outras igualdades). Insistir num reformismo gramatical para demandar igualdade de gênero é lutar por falso problema e alienar diversos aliados. Mesmo que se generalizasse um português muçúnico absolutamente sem referência a gênero, a neutralidade que se imporia não seria a do gênero, mas a da gramática; o preconceito que se imporia não seria o da gramática, mas o das relações sociais: continuariam capazes de se exprimir o machista, o transfóbico. No entanto, creio que o despautério, justamente por ser despautério, cumpre uma função sociológica importante, que, aliás, não tem absolutamente nada a ver com questões de gênero.
Quem admite policiar a expressão do seu pensamento num patamar tão vazio de significado como a gramática obviamente vai admitir que policiem seu pensamento no nível discursivo. De forma planejada ou não, cria-se um estado hipersensível à opinião chancelada pelo grupo. Os tontos apartidários e militontos de carteirinha que se engabelam com essas línguas-do-pê pra-frentex não percebem que o objetivo dos malabares gramaticais é o adestramento para tarefas mais práticas, muitíssimo menos escolásticas, porque, quando se põe em xeque algo tão natural quanto a própria estrutura da língua materna na escrita e mesmo na fala, como se resistirá ao bom-senso do ucaz de qualquer comitê central? O sujeito confessa de partida que está errado no nível mais elementar de como o seu pensamento se manifesta. O triunfo distópico de fazer que dois mais dois sejam cinco vende-se aqui, com toda distopia, como utopia. Francamente, prefiro ser escravo da tradição a ser escravo do futuro.
5. Adendo: o bom-tom pro boi tonto. O pingue-pongue pós-moderno entre “significante” e “significado” produziu a fusão de ambos, a ponto de pessoas em quem você em princípio estima inteligência superior a dum tomate podre se agarrarem ao significante em detrimento do significado. Em português claro, cada vez mais há gente para quem o que importa é a etiqueta lingüística, não o conteúdo do enunciado. Tenho anedota perfeita. No meu improfícuo trabalho, preciso entrevistar os partícipes dos siricoticos fundiários, que amiúde se originam naquilo que uns chamam de ocupações de terras, outros de invasões, com as conotações mais diversas e às vezes sem distinção. A boa técnica, todo pesquisador sabe, exige que o entrevistador interfira o menos possível na fala do depoente. É mesmo importante o entrevistador fazer-se de sonso e perguntar sobre o que já sabe (ou melhor, sobre o que pensa que sabe), entendendo as palavras pela conceituação do depoente. Colaboro com certa profissional, que pela formação deveria saber disso tudo muito melhor que eu, escolado para lidar com papel velho. Enuncie, porém, qualquer depoente “invasão” no lugar de “ocupação”, não importa com qual sentido (positivo, negativo, neutro, mono-, bi, trifásico, 110 ou 220 volts, 60 ou 50 hertz), e incontinente – eu disse incontinente – prorrompe a profissional:
- Não é invasão! É ocupação!
Sempre ergo os olhos aos confins siderais e busco socorro no meu planeta natal, Zórdon XL-486. A missão técnica dos cientistas terráqueos não é recolher informação; é instruir sobre etiqueta vocabular. Já houve caso em que a depoente, aliás com uma visão positiva do processo, após o esbregue da profissional, gaguejava toda vez na hora de dizer “invasão” para hesitante enxertar “ocupação”. Comprometemos a confiança da depoente, mas garantimos que ela nunca mais ousará falar “invasão” na nossa frente. Brilhante.
O curioso nesse exemplo trapalhão é que a principal preocupação com a etiqueta vocabular não garante proteção contra patifaria. Pelo contrário, só nos deixa mais vulneráveis, pois, como qualquer adulto deveria ser capaz de perceber, todo safado competente é fala-mansa. O vigarista sabe o que você quer ouvir e fala o que você quer ouvir mesmo quando pensa e faz exatamente o oposto. Ninguém melhor que o falso, o insincero domina as sutilezas do bom-tom. Na neurose de se fixar uma norma discursiva politicamente correta em vez de tratar os discursos como aproximações de idéias, vamos produzir um Versalhão planetário onde ninguém faz o que diz, ninguém diz o que faz, todos fazem que dizem, todos dizem que fazem. Os únicos aplausos sinceros e as únicas garagalhadas verdadeiras que vamos dar irão justamente para o charme invencível dos maiores impostores – enquanto passam a mão nos nossos bolsos e nas nossas bundas.
[1] Cf. KARASCH, Mary C. Slave Life in Rio de Janeiro: 1808-1850. Princeton: Princeton University Press, 1987, p. 5: “Brazilian blacks apparently preferred crioulo (creole), since it signified Brazilian birth, in which they took pride. Negro was less acceptable to them; it was almost synonymous with escravo (slave), and negro alone often implied African slave. Preto, however, seems to have been a somewhat neutral term for black, especially in cases in which the nationality or civil status of a black person was unknown.” [2] BASSETTO, Bruno Fregni. Elementos de Filologia Românica: história externa das línguas. São Paulo: Edusp, 2001., pp. 68-70; FREIRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala, pp. 518-521. IN: SANTIAGO, Silviano (org.). Intérpretes do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000, v. II.; LÉVI-STRAUSS, Claude. “Linguagem e sociedade”. IN: Antropologia Estrutural, pp. 79-82. [3] PINKER, Steven. The Language Instinct. Londres: Folio Society, 2009, pp. 17-20. [4] JOTA. Zélio dos Santos. Dicionário de Lingüística. Rio de Janeiro: Presença, 1976, p. 199. [5] COŞERIU, Eugenio. Sincronía, Diacronía e Historia. Madri: Editorial Gredos, 1973, 2ª ed. [6] Cf. exemplos em HOCK, Hans Henrich. Principles of Historical Linguistics. Berlim/Nova York: Mouton de Gruyter, 1991, 2ª ed, pp. 329-370. [7] PINKER, Steven. The Language Instinct. Londres: Folio Society, 2009, pp. 44-45. [8] PRICHARD E. E., Os Nuer: uma descrição do modo de subsistência e das instituições políticas de um povo nilota. São Paulo: Editora Perspectiva, 1978 (trad.), pp. 27, 50-57. [9] SAPIR, Edward. “Language and Environment”. IN: Selected Writings in Language, Culture, and Personality, pp. 90-91. [10] CARDOSO, Ciro. “Tempo e espaço”. IN: Um Historiador Fala de Teoria e Metodologia: ensaios. Bauru: Edusc, 2005, pp. 12. [11] CÂMARA Jr., J. Matoso. Princípios de Lingüística Geral. Rio de Janeiro: Padrão, 1989, 7ª ed., p. 66 [12] CÂMARA JR., J. Matoso. Introdução às Línguas Indígenas Brasileiras. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico., p. 20. [13] VERGOOSSEN, Hellen P et alii. “Four Dimensions of Criticism Against Gender-Fair Language”. Sex Roles, jan./2000, p.





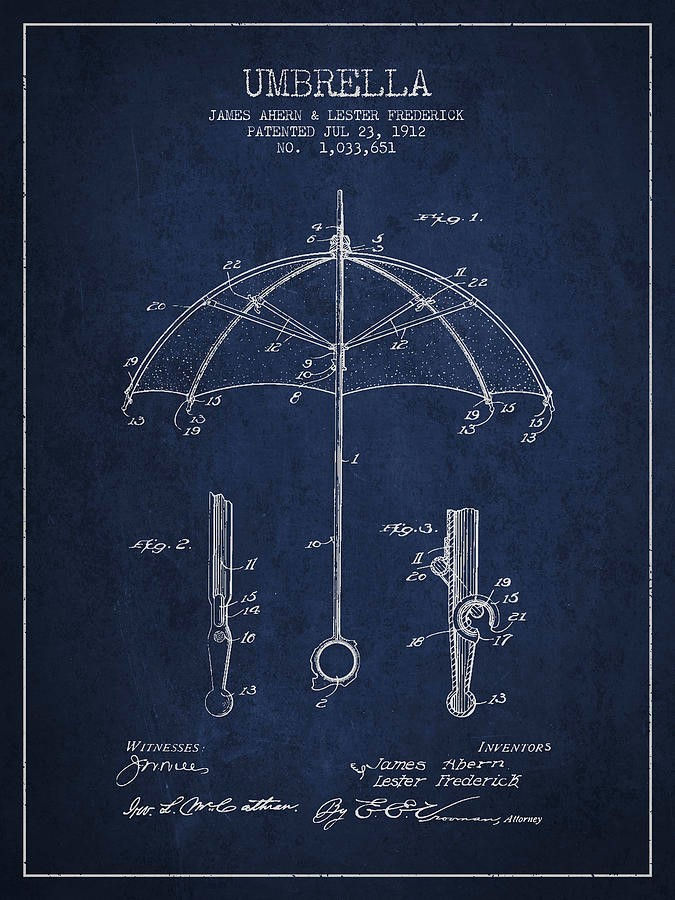

Komentáře