Os Esportes Radicais-chiques
- Álvaro Figueiró

- 7 de dez. de 2022
- 8 min de leitura

Esporte radical só pratiquei na Central do Brasil. Juvenil, veloz e ossudo, sagrei-me campeão em pegar lugar mal a porteira abria. O segredo era mirar num assento e desabalar para ele, acotovelando todos os rivais, de preferência os mais quebradiços. A cerca de meio metro do assento, era preciso dar um cavalo-de-pau e, no impulso, cair com a busanfa no pódium. A manobra era auxiliada pela mochila, não só pelo momento de inércia, mas também para agredir a concorrência. Qualquer sambada hesitante nesse momento era fatal, mesmo para quem liderasse a disputa. Parei de competir nas Ferrovíadas quando meu braço, não sei como, enganchou numa janela do trem que se aproximava e lá se iam meus dezessete anos para o vão da plataforma (e logo dali para algum cemitério suburbano em caixão fechado ou talvez açougue – o que meus pais preferissem). Também não sei como, consegui me projetar para trás no meio da multidão e escapei de depender de médium para exercer minha arte.
Os esportes radicais continuam em voga? Respondo em duas palavras: sei lá. Na década de 1990, estavam. Banguedjampe, parapente, rapel, pára-quedas, esnouborde, esqui, rali, canoísmo de corredeira, uindsurfe, alpinismo, jetesqui – vários que você vai lembrar se decodificar os aportuguesamentos. Tinha até um comercial do Hollywood no qual o caboclo, após escalar um pico nevado, acendia um cigarro e provava que tu podia atingir a ionosfera mesmo com câncer terminal de pulmão, isto é, o único que ainda restava pra ter câncer. Tudo se justificava pela busca de adrenalina, hormônio que desapareceu da mídia. Pergunto-me se a trocaram pelo estrogênio e pela testosterona. É possível que o identitarismo de hoje seja o que os esportes radicais foram há trinta anos atrás: meio de criar sentido para o indivíduo livre de cartilhas da vida. Como pude aferir na minha última vistoria anual ao mar, hoje nego já acha muito uhuuu o remo-em-pé (neolatim: stand up paddle).
Os esportes radicais prestavam-se, porém, a outra coisa além de dopar o sistema endócrino; prestavam-se à legitimação das frações superiores do branco-colarinato. Ao enfatizar superação, garra, determinação, meta, planejamento, esforço, sucesso, transplantava-se para o plano desportivo os mesmos tropos que legitimavam os líderes, os empreendedores, os visionários – em suma, aquele lero do mundo corporativo que tenta convencer a si e à patuléia de que é possível alguém ser mil vezes mais produtivo que outro profissional a fim de justificar diferenças de seis zeros nos contracheques, fora bônus, mordomias e orgias pagas pelo fornecedor nas mais finas termas de Vênus. Não à toa os esportes radicais eram primordialmente individuais, não de equipe, e sua prática extrapolava os clubes mais patoteiros para “a natureza intocada”, o que redunda em turismo e turismo caro bagarai. É variante menos escrachada do Tio Patinhas praticando salto ornamental na caixa-forte. Na década de 1990, o Everest foi invadido pelo turismo de aventura, a face explicitamente comercial do esporte radical. Executivos cinqüentões fumantes de Hollywood, com pouca coisa magra além de canelas e experiência montanhista, decidiam conquistar o topo do mundo, porque Wall Street não basta. Mas nessa empresa vital o organograma é invertido: aqui é a D.ª Nevasca de coxas brancas quem assedia o amado chefinho. Em 10 de maio 1996, o cronograma meteorológico encalacrou, o fluxograma logístico pifou e oito funcionários da Vivo tiveram de ser demitidos por justa causa.
Um bem-sucedido vendedor de carro usado pode ser meramente descrito como bom de lábia ou o cara que vendeu a maior quantidade de lixo pelo maior preço. O líder, o empreendedor, o visionário vivendo de fazer a mesma coisa que o ensaboado da Roubauto (recapitulando: vender a maior quantidade de lixo pelo maior preço), quer ser descrito numa categoria que afirme seu prestígio social – afinal ele não veste camisa de viscose nem tem medalhinha de São Jorge chapeada de ouro nem sua esposa ou filha se chama Kathyllynn Nathashah. É uma das razões para a eterna troca no trololó do administrês: impedir que a Feira de Acari incorpore o estátus conceitual entre seu vasto inventário de mercadorias roubadas (mutatis mutandis, o mesmo acontece na academia, que é um mundo corporativo cujo principal produto é a crítica do mundo corporativo... dos outros). Os esportes radicais também serviam para inverter um dos chavões preferidos pela pobralhada para salvaguardar seu amor-próprio: a macheza. Os ricos são ricos, mas frescos, frouxos, fracos e fodem mal. Porém quando o filhinho-de-papai escala um paredão no muque, sem corda, ele dá um chute no saco murcho do trabalhador pós-industrial, cujo maior feito de força física costuma ser pegar lugar no trem na Central e isso quando não leva cotovelada de estudante.
Tenho a mesma impressão dessa função ideológica quando leio os livros do navegante Amir Klink. Adoro relatos de viagem, ainda mais por zonas polares. Ele tem duas qualidade admiráveis, uma narrativa e outra pessoal: é minucioso nos aspectos concretos do trabalho e parece ser pau-pra-toda-obra. Gosto disso. Mas nunca tiquei um clique em Klink, quem não escreve mal, tampouco escreve bem. Acho que é o aroma de administrês flambado ao licor de MBA que noto numa manobra de vela ou numa enseada antártica.[1] Klink nunca é disruptivo. Há essa bonomia postiça tão brasileira. Sempre revendo amigos e família numa ilha subantártica ou à sombra supérflua dum aicebergue, os extremos da Terra são uma cabine exclusiva no restaurante do Country Club.
No que seria perrengaços pra mim, pra ti e, sobretudo, pro trabalhador de saco murcho, nunca paira algum grande desespero, a futilidade da vida, a aventura como reles escapismo, a redundância da circum-navegação solitária.[2] Pelo contrário, vejo-me assistindo a um episódio d’O Fascinante Mundo dos Ricos, programa de tevê que tu, pobretão de saco murcho, não conheces porque só transmitido em exclusivos televisores de cristal-de-bacará. O dono da transportadora Dalçóquio vai pessoalmente à Terra do Fogo entregar uma peça; o amigo médico abandona o emprego no hospital porque não o liberam pruns meses no mar; um trio de escudeiros veleja até Majorca pra trazer o mastro ao Brasil. Klink vive falando de gastos, dívidas, patrocínios, câmbio, impostos. Em momento nenhum, contudo, fala em preço. Em momento nenhum, diz quanto é sua renda. Aliás, não há, em momento nenhum, uma tentativa de se enquadrar socialmente (p. ex., minha família era rica, mas adolescente empobreci, fiz fortuna com isso ou aquilo etc.). Um dos traços mais curiosos do capitalismo anarco-escravista pentacampeão é este: contabilidade é tabu, cifrão e algarismos juntos trazem azar. A qual bolso, então, fica acessível uma escapada ao estresse da vida urbana para o contato com a “natureza intocada”, para a “superação dos elementos”, para “provar o seu valor”?...
A função ideológica do radicalismo esportivo aparece mais explicitamente na “superação dos desafios”. É aqui onde o aventureiro abre o PowerPoint e fala diretamente na reunião da diretoria. Sim, ele é um pleibói com tempo e grana pra passar um ano inteirinho no meio do nada – e por nada não me refiro às roças de Seropédica –, mas ele também é o gestor que planeja a empreitada, que motiva a equipe, que sabe reagir aos imprevistos, que inspira outros líderes. É o mocinho que luta não só contra raio, onda e trovão, mas também contra maus fornecedores e ele, o malvado-mor, o barnabé com sua carimbeira raiondatrovão. Psiu, presta atenção no Klink:
Em termos práticos, constituir empresa, contratar emprego ou serviços e administrar negócios pretendendo obter resultados, ou pior, lucro, são atividades interpretadas como crime, em que as empreende, por antecipação é o culpado. Não é o que a lei pretende orginalmente, é claro, mas esse é o efeito da legislação confusa e paternalista que rege as atividades corporativas do país. O resultado é interessante. Muito mais importante do que tino empreendedor, criatividade ou eficiência torna-se a habilidade de buscar brechas na tarefa de interpretar normas, leis, regulamentos, decretos e portarias, que se entredevoram e se multiplicam como roedores em frenesi. De um lado, perde-se um tempo precioso com a inconstância burocrática. De outro, a necessidade de sobrevivência, os compromissos reais, a vontade férrea de seguir em frente, desenvolvem uma agilidade de raciocínio e reação que escola nenhuma fora do Brasil ensina.[3]
¿E a pergunta de 90% de reais no último decil: quem se beneficia com a burocracia roda-presa? A pergunta não é feita – escamoteando-se assim o gabarito: o grande empresariado –, o que permite retralquimizar o ouro em ferro: empreender no Brasil é barra-pesada, mas por isso mesmo o empresário brazuca é versátil, é sagaz, é heróico.[4] O brasileiro é O POVO MAIS CRIATIVO DO MUNDO, o que todos sabem perante as duas ou três idéias originais nestes quinhentos anos de história pindorâmica. Se, de fato, a balbúrdia burocrática apurasse o empreendedorismo, o Brasil estaria ocupando posição cimeira na economia global – seríamos o melhor vendedor de carro usado na Exposição Universal de Acari.
Não fantasio quando ponho Klink palestrando para empresários. O seu saite registra mais de 2.500 palestras. Outros aventureiros também vivem de inspirar liderança. O alpinista Tomás Brandolin projeta suas andanças pelo ártico e suas subanças pelo Himalaia como eslaide de coutche. Nas palestras há temas quais[5]:
Planejamento: O que dá mais trabalho? Puxar um trenó de 100 kg sob 50 graus abaixo de zero ou planejar o que levar nele;[6]
Equipe: O desafio de somar as qualidades individuais para maximizar a performance do time;
Ser Lider: Como tornar a Liderança[7] em si num aspecto positivo e inspirador;
Quebra de paradigmas: Como transformar conhecimento em inovação;
Atitudes positivas: Sem determinação e motivação não há solução.
Só li um dos três livros de Brandolin, Sozinho no Pólo Norte, mas já nesse sorvete sentia os flocos de administrês. Um pouco mais de ousadia teria estampado títulos como Lições Árticas para o Líder Frio, Cuidado com as Ursadas: lidando com os empregados ou Vendendo Picolé de Foca para Esquimó.
Às vezes fico com a impressão de que o propósito precípuo dessas palestras é lavar dinheiro num esquema que escapa à minha otarice e aos meus escassos bicos sonegados à Receita Federal. No entanto, ponderando melhor, basta folhear os livros genericamente destinados aos executivos para se assombrar como pessoas graúdas necessitam de, não digo muletas, mas andadores psicológicos. Parece uma busca neurótica por legitimação da posição social – o que, por outro lado, implica, nalgum nível, a consciência de que a posição é ilegítima ou, ao menos, precária. No Antigo Regime, as elites se contentavam com uma capa de veludo, uma espada à cinta, uma torta de carneiro semanal e a primeira fila na igreja. Isso representava o poder e o poder, dom divino, não se justifica. Nos dias que correm, todo mundo – elite, remediado, pobre, branco, preto, mestiço, homem, mulher, homo, hétero, bi, cis, trans, coluna-do-meio, reaça, moderninho, etcétera e tals –, todo mundo anda afanado mas baratinado para justificar sua posição ou suas pretensões na sociedade, até mesmo sua razão de existir. É possível que a neurose se explique pela evolução do capitalismo que torna – graças ao Silício! – o trabalho cada vez mais supérfluo ou, como também palpito, pelo pressentimento de que a consciência individual está para ser dissolvida num super-organismo digital. O risco é a meiúca. Enquanto a grã-finagem brincar e morrer de esquilo-voador e de ráftim, ainda está tudo bem. A chapa esquenta se a grã-finagem perceber – como parte já percebeu – que, melhor que se justificar, é explorar as rixas da ralé, que somos todos nós com renda anual (sonegada ou não) inferior a um milhão de dólares, reformando de vez a arena pública em arena gladiatoral. O esporte radical vai ser este aqui: o Fulano Fuleiro, paladino dos terraplanistas, vérsus Beltrano Bunda-suja, campeão da linguagem neutra de gênero. Nas arquibancadas, Musk, Trump e Bezos acompanham o espetáculo através de esmeraldas.
[1] Meu texto foi escrito tendo em mente a literatura de viagem de Klink. Hoje, por acaso, me caiu um título onde a função ideológica para o mundo corporativo é mais explícita. KLINK, Amir. Não Há Tempo a Perder. Rio de Janeiro: Foz / Tordesilhas, 2017.
[2] Apesar de pura vaidade como todas as empreitadas do gênero, o feito de Joshua Slocum no veleiro Spray, entre 1895 e 1898, estava, ao menos, fundamente ancorado no mundo do trabalho. O americano era experimentado capitão da marinha mercante.
[3] KLINK, Amir. Linha-d’água: entre estaleiros e homens do mar. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 143.
[4] Merece estudo a triangulação chora-mama entre empresariado, Estado e inteliguêntsia, mas, por ora, deixarei o leitor matutando aí como esse trio, feito teatro de marionetes, lucra esmurrando uns aos outros.
[5] http://www.extremos.com.br/palestras/thomaz_brandolin/
[6] Obviamente é puxar o trenó, mas, na palestra, a resposta, já sei, será o planejamento. Por um lado, desenfatiza o esforço físico, que é coisa de peão quando puro trabalho, e valoriza o papel do gestor, cujo planejamento rotineiro, como o da carga dum trenó, não discrepa muito do planejamento duma mala de viagem.
[7] Liderança com ele maiúsculo.

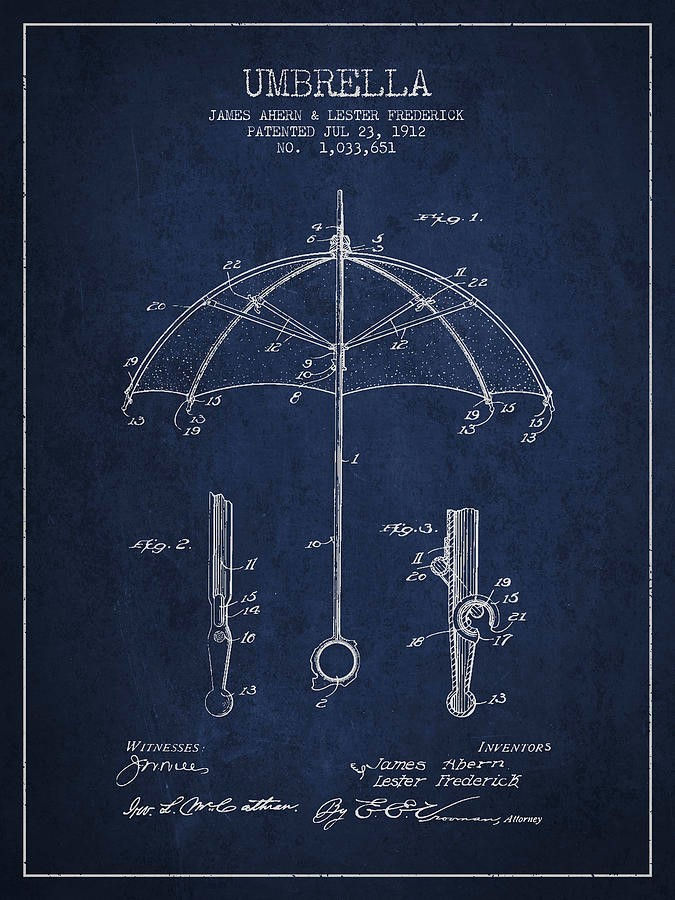

Comments