Inscientia Aedificandi
- Álvaro Figueiró

- 9 de jan. de 2021
- 19 min de leitura
Atualizado: 12 de jan. de 2021

Quando escragiava no Museu Histórico Nacional, vi um cartão-postal do Viaduto do Chá na década de 1920. Não consegui acreditar que fosse São Paulo. No Rio dessa mesma época, a Avenida Rio Branco era gema nos anéis de Saturno. Há um documentário, em cores, de 1936 que torna a experiência mais inquietante ainda: algo da geografia está lá, mas não a cidade. Mais recentemente trombei com fotografia panorâmica de Sena Madureira, nenhuma cosmópolis. Embora o ano fosse 1913 e o lugarejo ficasse no Acre, às margens do Rio Iaco, lá onde Judas perdeu as pregas, muito me admirei pela beleza simples da trintena de casas, de tábuas, alguns telhados alternando madeiras claras e escuras, aqui e ali as portas em ogivas tão usuais em Manaus. O efeito do conjunto, mesmo nos cafundós da zona tórrida anecúmena ubi sunt dracones, era muito, mas muito superior ao que há bastante tempo passa por cidade entre nós. Vão falar que é saudosismo, romantização do passado e o escambau. Não é saudosismo, romantização do passado nem o escambau não – cedo ou tarde se reconhecerá que o Brasil foi um dos países que sofreu o maior e mais rápido estabaco urbanístico e estético.
As cidades brasileiras são horríveis. Falo da cidade formal mesmo. Do alto, prédios de apartamento, indistintos, todos da mesma altura, às vezes isolados, às vezes amontoados, exemplares duma feiúra atemporal. Se a cidade é média, por entre o paliteiro vê-se muito vermelho dos telhados das casas e um tiquinho de verde que esqueceram de cimentar. Da rua, muros castelãs, lotes exíguos, jardins nulos, arquitetura medíocre, fachadas comerciais tapadas por placas, macarronada de fios nos postes tortos, pichações de mictório, vias inadequadas para o trânsito automotivo, esgoto, lixo, mijo, merda e sangue pelas calçadas estreitas e esburacadas.
Um amigo compartilha idéia que vejo muito difundida: as cidades brasileiras da primeira metade do século XX apareciam como aprazíveis, pois, num país ainda agrário, eram apenas o teatrinho de representação para as elites e o ingresso exigia cartola e casaca. Outra vertente culpa a vertiginosa urbanização, sobretudo entre 1940 e 1980. Enfim há quem dispare contra o urbanismo português. Essas razões não dão conta do problema todo e mesmo sua veracidade precisa ser qualificada. Primeiro, porque o período de maior concentração de riqueza corresponde à etapa final do processo de urbanização, isto é, o período desenvolvimentista hiperinflacionário, mais ou menos entre 1955 e 1980. Segundo, porque uma cidade como o Rio experimentou suas mais rápidas taxas de crescimento entre fins do século XIX e começos do XX. Por fim, nada indica que o urbanismo português, na colônia e na metrópole, fosse pior ou melhor que o do resto da Europa. Se as cidades e vilas coloniais brasileiras não seguiam os planos hipodâmicos da América Espanhola, isso se devia antes às limitações do terreno. Onde o solo era mais plano, a rede viária aproximava-se duma malha ortogonal: basta observar um mapa antigo do Centro carioca. Em todo o caso, o plano hipodâmico por si só não se traduz em bom urbanismo, nem mesmo para fluxo viário, vide as diagonales que tiveram de abrir em Buenos Aires. Ao contrário da esculhambação atual, havia sim bastante rigor em termos de posturas edilícias, donde o caráter uniforme das cidades construídas até meados do século XIX, às vezes impropriamente chamadas de coloniais, como Parati. Regulavam-se gabaritos, fachadas, ocupação integral da testada, direção das águas do telhado. Produzia-se monotonia, mas a regulação estava ali. Até entrado no século XX, a Prefeitura do Rio manteria uma comissão de censura de fachadas, cujas plantas se conservam parcialmente no Arquivo Geral da Cidade. O controle não se limitava à feição fachadista, ao contrário das críticas que foram e continuam sendo dirigidas às grandes reformas belepoquinas. O Rio de Janeiro foi a terceira cidade do mundo a contar com tratamento de esgoto. Até hoje, comparado a outras cidades brasileiras, mesmo São Paulo, o Rio se destaca por sua vasta rede elétrica subterrânea. A razão é prosaica: o processo de metropolização carioca foi pioneiro e, logo, data dum período de quando ainda se conservava certo rigor urbanístico.
A explicação que me parece mais razoável é que a má urbanização e a péssima arquitetura foram escolhas dentro dum projeto de modernização escaralhado. A lógica era vamos sair crescendo e, quando estivermos ricos, voltamos pra ajeitar o que ficou feio e tosco – inclusive, guaribar a palafita social. Se não der, tanto faz. Todo mundo sabe que a economia se guiou por esse desenvolvimentismo sem-freio, o tal de crescer o bolo para depois repartir do eterno governista Delfim Neto, gordo, baleia, saco de areia. Outros países adotaram receita similar, como Japão, Singapura, Taiuã e Coréia do Sul. Só que o bolinho asiático não solou e ainda o passaram a vender nas quintadas globais. Se os orientais conseguiram driblar a armadilha da renda média, se conseguiram democratizar instituições, se conseguiram reduzir as desigualdades sociais, persistem na paisagem urbana os efeitos do desenvolvimento a todo custo. Só se suprimiram os casos mais extremos, como o favelão vertical de Kowloon em Hong Kong (que você conhece sem saber d’O Grande Dragão Branco). As cidades japonesas são notoriamente feias, reproduzindo vícios generalizados pelo Brasil, como fiarada nos postes e desleixo no tratamento externo das casas. O contraste é mais gritante ainda por se tratar não só dum dos países mais modernos do mundo, mas também tributário duma tradição estética sofisticada e sutil. Esqueça os jardins zens, as alamedas de cedro e os templos xintoístas, o Japão é, como diz o título dum péssimo obscuro romance, uma “favela high-tech”.
No caso brasileiro, a estratégia foi até mais radical. A cobertura de água e esgoto no Rio e São Paulo caiu a partir de 1940. Na capital paulista, com quase um milhão e meio de habitantes em 1940, o esgoto atendia 70% da população em 1940; quarenta anos depois, caiu para 45%. Nada representa melhor esse desenvolvimentismo à bangu que a universalização da eletricidade ter caminhado muitíssimo mais rápido que a infra-estrutura de que fruía qualquer cidade provincial romana. Se cagaram (sem esgoto) para a infra mais infra, é óbvio que fiação subterrânea e considerações estéticas sejam enxotadas do planejamento como frufru. Num país tropical, com torós e solão, a fiação subterrânea, contudo, é uma contraparte importante para a arborização, logo veremos.
Tentei acoxambrar uma explicação sócio-histórica. Numa esfera mais ampla ainda, o escaceteamento urbanístico faz parte dum processo de desinstitucionalização da sociabilidade brasileira. Sobre isso, falo outro dia, mas basicamente é uma tentativa de enfeixar uma série de fenômenos como atrofia do poder do Estado e aumento da violência como forma de controle social. No entanto, de forma mais impressionista, podemos apontar alguns fatores que contribuem para nossas cidades serem essa cagada: falta de cultura estética; falta de bom senso; execução ruim; legislação e instituições inadequadas; a influência do modernismo. Seria difícil negar os fenômenos embora também seja difícil integrá-los numa explicação coesa. Então neste ensaio apresento os temas como puxadinhos por emboçar e deixo valas-negras correr a céu aberto.
1. Senso estético. A categoria de bom-gosto não é das mais refinadas, eu sei. Algumas coisas se emburacam no idiossincrático. Eu particularmente não tolero as ubíquas lâmpadas de luz branca, que, aos meus olhos, transformam a mais aconchegante das salas em necrotério. No entanto, há escolhas que só se explicam pelo desprezo à estética. A primeira providência do brasileiro médio em face dum jardim ou pomar (“mato”) é cimentá-lo, se possível azulejá-lo. Em fantasias de castelo, a casa ganha três, quatro andares, muralhas com estrepe e concertina, tronitonantes portões de chapas – e é assaltada do mesmo jeito. Quando a casa tem algum estilo histórico definido (“velha”), a mais leve reforma se propõe a descaracterizá-la. Se há ornamentos e modinaturas, eles são apagados. Onde as esquadrias são de madeira, substituem-nas pelas de alumínio. Até a fenestração é alterada. Há incontáveis sobrados no subúrbio, como os da vila operária de Marechal Hermes, onde as janelas francesas foram trocadas por horizontais e as fachadas reduzidas a épura. Exceto pelos mais modernos, os edifícios comerciais viram pardieiro, cada escritório pondo o ar-condicionado e a persiana onde e como melhor lhe apraz.
Pode-se argumentar que certas opções estéticas decorrem de limitações impostas pela pobreza. Na verdade, a pobreza só agrava tendências antiestéticas. Quantos apartamentos grã-finos no Flamengo e em Copacabana não construíram puxadinhos nas coberturas ou fecharam as sacadas? No caso dos edifícios ardecôs, onde o charme está justamente no jogo entre saliências e reentrâncias, a volumetria anula-se num paredão sem graça ao se fechar as sacadas. Destrói-se a fachada para cada Átila de chinelo expandir seu império de dois metros quadrados. Isso só pode ser correlato aos processos de apropriação de espaços públicos. Menos que ganhos concretos de espaço, parece que se responde a uma pulsão por esfera privada mais larga, reação a uma sociedade onde as relações são violentas, desiguais e anômicas, então pra dentro piscinas, churrasqueiras e o diabo a quatro.
A fachada das lojas cada vez mais é concebida como o homólogo duma embalagem de produto. Com os lotes estreitos que caracterizam nossas cidades mais antigas, o efeito visual é a rua como prateleira de farmácia. A superchiquê classe A++³ gold exclusive com estrelinha e paulistana Rua Oscar Freire me remete a um Calçadão de Campo Grande mais hiperinflacionado e menos craudeado.
E mesmo os ricos podem ser desculpados. Quando o Estado constrói almanjarras, até o milionário se exime de construir bem. As delegacias policiais fluminenses, todas uniformemente semelhantes a pastelaria, talvez se justifiquem por questões financeiras e mesmo semiológicas, mas que dizer das escolas da Prefeitura do Rio de lápis em riste? A arquitetura das universidades públicas é dum horror que não se explica só pela voga brutalista. Os cemitérios, em todo o mundo verdadeiros parques, aqui se transformam em estacionamento de sepulturas. O cemitério municipal de Italva merece menção especial na galeria do bizarro, o único exemplo de influência asteca-estrusca na arquitetura brasileira: espremidos morro pelado acima, vários túmulos têm marquise, alguns com feitio de varanda. Presumo que seja para o familiar enlutado poder carpir o ente querido balançando numa rede.
O desinteresse pelo belo responde à matriz barbaramente egocêntrica da nossa sociedade. O tato com o aspecto exterior em parte, depende dum senso comunitário, pois presume preocupação em se integrar ao local, um esforço individual, consciente ou não, em colaborar para tornar uma rua ou um quarteirão mais agradável, em produzir um efeito de conjunto. Se o parágrafo soa poliana, é porque, no Brasil, ninguém pensa assim mesmo. O imóvel é concebido para dentro e só para dentro – donde as assimetrias desse plano orgânico não serem exploradas esteticamente nas fachadas, donde o discurso conservador pacas – corrente até em quem se diz esquerda – de casa como “segurança”. A casa (própria) é isso aí: um bastião contra o mundo exterior, meio Roberto DaMatta, quem, como eu, também fala muita merda. O exterior limita-se a funções de representação, que se manifestam sobretudo pelo tamanho e por uma ou outra moda (lucarnas triangulares, vidros verdes, chaminé da churrasqueira vazando o telhado). É muito difícil ver uma casa bonita entre pobres, remediados ou ricos, porque as funções de representação atropelam qualquer possibilidade de equilíbrio com os recursos disponíveis. Mansões e aspirantes a mansões têm como principais objetivos incluir no programa a maior quantidade de funções (garagem para retroescavadeiras tunadas, quadras para peteca guatelmateca), atingir grandes farâonicas e reproduzir um ou outro signo de estátus – ou seja, afirmar-se ricaço e só isso. Todo mundo zoou a grotesca mansão do cantor sertanojo Gustavo Lima: mas ele só macaqueou, com atraso e na horizontal, a moda dos ditos neoclássicos que foram a forma privilegiada de arquitetura residencial de elite em São Paulo entre 2005 e 2015, sobretudo em prédios de apartamento. Frontão de músico carregando a viola com clave de sol apoiado em colunas jônicas perna-de-saracura por sua vez apoiadas em pedestais – é fácil rir desse pórtico, se não pela palavra, ao menos pelo píxel. Porém caracterizavam os neoclássicos paulistanos o mesmo desprezo pelas proporções, a mesma maçoroca estilística, a mesma falsa pompa, a mesma vacuidade ornamental por simplificada. Quando a elite da elite brasileira vai morar num duplex cujo coroamento tenta remeter a um Luís XVI durango e chama o trambolho de “neoclássico” e a mansarda fajuta de “chapeuzinho”, mermão, tu não podes esperar grandes coisas do resto do resto. A simples comparação com um prédio de elite da década de 1920, como o Edifício Guinle no Flamengo, que também tentava adaptar Paris aos nossos gostos arbóreos mostrará que caímos até na arte da xérox.
Quando vejo essas mansões de Gustavos Limas e esses prédios na Cidade Jardim tenho a mesma reação perante o vídeo da suruba onde teria aparecido o João Dória: se é para concentrar renda e construir trambolhos, se é para fazer suruba com quatro gostosas e ficar pau-molão, então a elite brasileira está totalmente desmoralizada e ouço até a Internacional.
2. Bom-senso. Onde a preocupação estética entra, ela não prima pelo bom-senso. Nada traduz isso melhor que o tresloucado paisagismo. Talvez o morador de Bangu não saiba, mas o Rio é uma cidade tropical, com verões insuportáveis. Uma rua bem arborizada reduz a temperatura em 6 ºC. Ou seja, de calorentos 30 ºC para agradáveis 24º e de mortíferos 40 ºC para sobrevivíveis 34 ºC. Mas se continuamos, sob o sol de janeiro, submetendo advogado a casaco e a xale (afinal, isso é que é paletó e gravata), vamos lá entender o significado do paisagismo pro controle térmico? Arborização é miçanga, paisagismo passageiro para, quando muito, ser contemplado da janela dum carro. A rua, afinal, é só lugar de passagem. Quer por associações imperiais, quer pelo manejo nulo, quando alguém clama por árvores dão-nos palmeira, que dá coco mas não sombra. E ainda ajuda a lembrar Miami. No Parque Madureira, uma equipe de sádicos abusou de palmeiras – esqueceram só de urtigas, cactos, coroas-de-cristo e capim-navalha. Não sei bem o que significa justiça social, mas com certeza não é plantar palmeira em Madureira. Nos últimos anos, a cidade assistiu a uma infestação de jiravás, que, no fundo, é uma samambaia murcha nas alturas. Na Disneylândia carioca, a flora é completada por bromélias, cicádeas e ixoras, que dão ao conjunto um leve toque triássico; no Reino Unido da Subúrbia e Favelônia, oleandros e leucenas (que nasce espontaneamente, como se vê nos canteiros da Avenida Brasil). Nada testemunha melhor o desleixo com o paisagismo do que o fato de a Comlurb ser incumbida de podas. Vistosas amendoeiras-da-índia são transmutadas em bailarinas anoxéricas em arabesque. Às vezes, os garis viram madeireiros: diversos oitis lapeanos foram extirpados; não plantaram nenhum de volta, mas pelo menos não tocaram boi por aqui.
A fiação subterrânea – o suprassumo da frescurite –, quando posta num contexto ambiental, aparece com investimento caro mas sensato. Ela desobstrui o espaço aéreo para copas frondosas. Além da moderação térmica, as árvores filtram poeira e ruído e retêm as águas das chuvas reduzindo as chances de enchente. A supressão da fiação aérea é um benefício em si, pois, sem postes para cair em temporais, o abastecimento elétrico fica menos vulnerável.
Árvore é coisa de fresco.
3. Execução e planejamento ruins. Sempre quando reclamo da queda na qualidade da mão-de-obra, sinto-me como governanta inglesa, peito de pombo e broche com camafeu indecifrável, lastimando a criadagem. No entanto, quem mora em apartamento antigo, como este meu Covil de 1939, escandaliza-se como discrepa a solidez da obra original com os resultados de qualquer reforma. Mas aquilo que o locador obtém de serviço porco se reproduz fora do seu imóvel, já na calçada – mais grave ainda pela quantidade de recursos, financeiros e humanos, de que dispõe o Estado. Não vou nem falar da ciclovia de açúcar que derreteu no mar. Limito-me a calçadas que ninguém mais consegue tornar niveladas ou, quando niveladas, começam a desmanchar um ou dois anos depois. Qualquer obra aparentemente bem feita, passa a demonstrar sinais de fadiga após a faixa cortada e a placa inaugurada. Na Orla Olímpica, admirável do ponto urbanístico, os blocos de granitos fazem pensar que, dia e noite, conduzem por ali manadas de elefantes (uma pena, seria divertido; elefante é tão bacana quanto tubarão). Até a alta arquitetura apresenta execução porcalhenta. Os exteriores de diversas obras de Niemeyer – p. ex., o Museu de Arte Contemporânea – tem textura de bunda nonagenária, celulite de concreto.
Algumas coisas descambam para o cômico. Em Bangu, há uma ciclovia onde os postes ora estão na faixa da direita, ora na faixa da esquerda, de forma que a baique tem de andar em zigue-zague. Bom como esporte radical, ruim como transporte urbano. Algumas coisas descambam para a sacanagem. O metrô da Presidente Vargas interrompe a saída para o lado sul na última faixa, ou seja, não tem aí conexão direta com a calçada. Portanto, quem quiser ir para esse lado da avenida, meros vinte metros, tem de esperar o sinal fechar, o que demora às vezes mais dum minuto. Por que não abriram saída na calçada sul é inexplicável, pois os terrenos aí eram baldios. Por volta de 2013, construíram dois novos prédios nesse lado sem saída. Não se aproveitou o ensejo para exigir da construtora uma expansão da saída do metrô. (Mas haveria meios para fazer tal arranjo?)
4. Deficiências normativas e institucionais. A legislação também tem sua culpa. Ela pauta-se por pressupostos irrealistas, quer por não atenderem às atuais possibilidades técnicas e econômicas, quer por ignorar soluções edilícias consagradas alhures, quer por generalizar normas atropelando um bom-senso casuístico. O primeiro ponto é manifesto no tabu dos gabaritos. Embora o Rio construa arranha-céus desda década de 1920, persiste indisfarçável desprezo, na mídia e em certa intelectualidade, contra os “espigões”. Em boa parte do Centro do Rio, sobretudo nos trechos residenciais, como a Lapa, vigem limites de treze andares.[1] Os argumentos esgrimidos vão desde preservação da ambiência local, manter a vista de certos monumentos, luta contra a especulação imobiliária. Os frutos dessa rigidez são a redução da oferta de apartamentos e escritórios com o conseqüente encarecimento, uma taxa de ocupação do solo mais elevada (reduzindo áreas de impermeabilização) e a impossibilidade de se atrelar contrapartidas para andares suplementares (p. ex., unidades voltadas à moradia popular). Em certos casos, as razões ao veto são absurdas. Anos atrás, fez-se campanha contra um “espigão” que a Eletrobrás pretendia construir, pois interferiria no panorama dos Arcos da Lapa. O panorama só existe porque, para construir uma via expressa que não deslanchou, arrasaram na década de 1960 com parte do bairro, que até hoje está cheio de baldios e estacionamentos. Ademais, o panorama já conta com alguns prédios, inclusive a hórrida Catedral Metropolitana de Nossa Senhora de Chernobyl, capaz de embarangar até a Ode a Alegria. É uma clássica situação chove-não-molha. Não pode construir arranha-céu, mas reconstruir sobrado também é tabu. A degradação urbana agradece.
Até hoje o problema das empenas cegas não foi resolvido porque nossa vereança está mais preocupada em aprovar moções de louvor à merendeira Sueli ou decretar o Dia Municipal da Sinuca Paraplégica do que estudar como o superaram na gringolândia. As empenas cegas (ou oitões), além de feias, ainda mais no encardido clima tropical, privam os prédios de iluminação e ventilação naturais. Elas surgem quando se edifica até paredes-meias na expectativa de que os vizinhos construam bloqueando as empenas. Muitas vezes, porém, o vizinho não edifica a ponto de cobrir a empena ou, pelo contrário, edifica mais alto e produz nova empena. Ninguém abre janelas na empena por temor do investimento inútil ao tê-las emparedadas pelo vizinho. Quem souber teoria dos jogos aplique dilema do prisioneiro aí. Uma solução para as empenas é impedir a construção até os limites do terreno (adotada, p. ex., na Avenida Paulista). Em certos contextos, tal medida é antieconômica ou promotora de resultados parciais. Nas metrópoles americanas há muito tempo se transacionam air rights, que asseguram que as laterais não serão bloqueadas por um novo prédio.
As leis tendem a ser duma generalidade que parece supor que se opera num descampado, não numa cidade que evoluiu organicamente, num retalho de posturas. Em vez da avaliação, caso a caso, a generalidade normativa produz aberrações urbanísticas e demolições inúteis. Uma parte do Centro carioca é regida por posturas que exigem pilotis ou galerias, solução introduzida por Agache em fins da década de 1920 para o Castelo e generalizada para a Avenida Presidente Vargas e arredores na década de 1940. Pretendia-se proteger o pedestre do sol e da chuva, não restringir a área edificada e, onde a via era estreita, permitir o alargamento da calçada. Contudo, muitas ruas dos entornos, não receberam empreendimentos de vulto desda abertura da Avenida Presidente Vargas. Construções novas que se fizeram aí dispunham de pequenos capitais, nada muito diferente dos recursos que fundamentavam a construção de sobrados. Mesmo assim, exigiu-se dessas obras modestas a implantação sobre pilotis, com resultados grotescos. Há um exemplar na Rua General Caldwell, que assentado todo no solo, só seria feio, mas, sobre pilotis, é satânico. Você vê a gambiarra e se pergunta quais rituais se executam ali com graxa e engradados de refrigerante.
Apesar do nível bélico da perda de patrimônio imobiliário, ainda se demolem sobrados em perfeito estado de conservação por falta de regras moldáveis ao caso concreto. Na Rua Evaristo da Veiga, o Passeio Corporate acabou com sobrados em ótimas condições e, ademais, com entradas para veículos, porque decerto se exigiu a construção sobre o limite do lote em vez de se determinar o simples afastamento da fachada do novo prédio para dentro do terreno. Ao empreendimento imobiliário poderiam ser concedidas contrapartidas com gabarito mais alto, assegurando área útil igual ou mesmo superior à taxa de ocupação original. Na Rua dos Inválidos, demoliu-se um singular galpão industrial, meio arnuvô, meio ardecô, para se construir um cubo de vidro com míseros quatro andares. Aí sequer houve grandes ganhos de espaço locável. Outro prédio singular foi sacrificado na Rua do Riachuelo. Esse caso é mais aberrante ainda, pois, ao lado do prédio residencial que se ergueu (treze andares!) há um pequeno cortiço. Além da preservação patrimonial, a aprovação do projeto já deveria levar em conta o problema habitacional do cortiço, que se poderia resolver de inúmeras formas – p. ex., uma triangulação em que a Prefeitura expropriasse o lote do cortiço e o repassasse ao empreendedor imobiliário sob condição de se construir apartamentos adicionais para os moradores do cortiço. Mesmo acaso se esbarrasse em fortes resistências nesse experimento de integração habitacional (que, ao contrário do puro bom-mocismo, pode sim fracassar por razões sociológicas e não apenas de preconceito), a Prefeitura poderia reter os apartamentos suplementares como sua propriedade, alugando-os ou alienando-os a preços de mercado para obter receitas e financiar moradia social para os desalojados do cortiço. Enfim, a questão aqui não é cravar a melhor solução e sim sublinhar que sequer se considera a integração de várias problemáticas. A própria falta de instrumentos para remembrar os diminutos lotes já é sinal da falta de diretrizes na renovação urbana.
Com certeza, pode-se alegar que as normas genéricas reduzem riscos com favorecimentos injustos, ainda mais numa sociedade como a brasileira, onde compadrios, panelinhas, tapinhas nas costas e caixinhas prevalecem sobre diretrizes técnicas. Ao mesmo tempo, contudo, é muito difícil supor que o nosso caos urbano e arquitetônico possa ser desfeito sem intervenções pontuais – a não ser que sejamos agraciados com terremotos, tsunâmis, bombardeios aéreos, vulcanismo e vandalismo extraterreno. Ao contrário do que pensam os tupiniquins, o Brasil freqüenta a geriatria. Como nos países europeus, o nosso tecido urbano já se estabilizou. Não teremos mais drásticas e céleres reformulações urbanas tampouco criação de novas urbes.
Embora o Brasil conte, desda década de 1950, com algumas das maiores cidades do mundo, espanta a carência de instâncias coordenadoras de políticas para a mancha metropolitana. Quando existem, logo pifam (como a Fundrem) ou viram cabidões (o Instituto Rio Metrópole). Dispenso comentários sobre a minha repartição, que entende política fundiária como demagogia – e isso nos melhores momentos do xou do intervalo. Sequer se conseguem estimular e restringir vetores de crescimento urbano, porque não há órgão que ponha o piru na mesa ou, metáfora mais adequada para a realidade local, o fuzil na mesa. Entre os trocentos quaquilhões de paradoxos brasileiros, está o de que o Estado regula com rigor o que não precisa ser regulado e se omite de regular o que é pressuposto do poder estatal regular. Se eu quiser construir um reator nuclear (modelo bielorruso) no meu quintal, ninguém vai me aporrinhar. No setor de transporte, é laissez-faire total, ou, metáfora mais adequada para a realidade local, lei-de-murici. O metrô e o trem não conseguem que as linhas de ônibus circulem apenas como alimentadoras das estações ferroviárias; os ônibus não conseguem se impor às cômbis das milícias, que chegaram a destruir as estações do BRT em Santa Cruz e Campo Grande. Os ônibus fazem trajetos antieconômicos e irracionais (como sistema viário, não financeiro), porque surgiram organicamente e em time que está ganhando não se mexe.
Para piorar, as instâncias de planejamento e fiscalização não possuem mão-de-obra qualificada. Quando ela existe, é atropelada nos seus pareceres. Alguns centros urbanos da Baixada Fluminense são muito mais degradados do que os subúrbios cariocas não porque, como Duque de Caxias, as prefeituras sejam mais pobres, mas por falta de quadros técnicos.
Modernismo, mordenices e velharias. A ação do modernismo foi deletéria. Na simplificação estética em nome do racionalismo, criou-se um liberou-geral. O resultado foi essa arquitetura sem individualidade nenhuma. Ademais nosso modernismo foi ineficaz e formalista. Ineficaz por não generalizar inovações como tetos-verdes e terraços-jardins. Formalista por transformar soluções em tiques. Niemeyer superou-se nisso. Mesmo nos seus últimos projetos, como no horrendo Eco Sapucaí, a pá de cal no Catumbi, Niemeyer cobriu tanto a fachada norte quanto a sul com um paredão marmóreo. Além de feio, reduz a insolação, o que hoje, com vidros tratados, não significa que o interior vai ficar um forno. No Banco Boavista, projeto de 1947, Niemeyer instalou na fachada oeste quebra-sóis, conforme a receita da época, solução lógica para a tecnologia disponível. No entanto, essa fachada voltada para o sol da tarde fica na Rua da Quitanda, que mal tem seis metros de largura e que, pelo projeto urbanístico da Avenida Presidente Vargas, necessariamente teria outro prédio de igual altura do outro lado da calçada. Noutras palavras, a utilidade do quebra-sol seria episódica e, no mais das vezes, só atrapalharia o pouco de iluminação natural chegar por essa fachada. Quem estudou na Oxford Fluminense, conhece as agruras do Caminho Niemeyer: o pedestre não só tem de atravessar cem metros de puro concreto, mas também, de sacanagem, a única sombra disponível, a duma marquise, é toda em zigue-zague. Vai bem com a ciclovia de Bangu.
Como já na década de 1950 esculacharam os filhotes da Bauhaus, as bases teóricas dos modernistas brasileiros eram muito bambas. Apesar da discurseira corbusiana verde-amarelista, o programa intelectual era até irracionalista. Num peteleco, o historiador Nikolaus Pevsner chegou a comparar as torsões e recurvas do nosso modernismo ao arnuvô, cujos prédios, como o Palácio Monroe e o Ministério da Agricultura, Lúcio Costas e miguchos desprezavam como “bolo de noiva”.[2] Na prática, o resultado da hegemonia modernista foi uma arquitetura que paradoxalmente dependia de gênios, tanto que os próceres do movimento no Brasil se escusaram cinicamente das porcarias que outros menos dotados foram construindo. Na Avenida Henrique Valadares, há um prédio concluído em 2010 cuja data especialista nenhum poderia cravar, senão por vidros verdes: poderia muito bem ter sido construído em 1960 como em 2020 (ao olho ligeiramente treinado, é impossível confundir um sobrado de 1860 com um de 1920). Para piorar, como costumeiro por aqui, mitificaram e museificaram o modernismo de tal maneira que críticas efetivas só pintariam tardiamente. Pelo visto, nas faculdades de arquitetura e urbanismo, perdura veneração acrítica. Fica a dica.
Para não só gongar o movimento, uma vasta gama de preocupações e soluções de arquitetura ecológica, que o modernismo até chegou aflorar, inexistem no painel urbano brasileiro. Num país tropical, impressiona como não se generalizaram em prédios novos chaminés solares, aquecedores solares d’água, captação de chuvas para águas servidas. Inovações mais radicais e sistêmicas como redes inteligentes de energia elétrica então sequer serão cogitadas.
Enfim, inovações técnicas ajudaram no rebaixamento de padrões arquitetônicos, urbanísticos e habitacionais. Cidades cuja metropolização consolidou-se no século XIX ou começos do XX apresentam-se compactas, pois a expansão urbana estava condicionada a sistemas de transporte de massa: o único transporte individual significativo era a viação-canela. Sem negar alguns problemas, que a técnica urbanística demorou a resolver, as cidades compactas incorrem em custos mais baixos com infra-estrutura e fiscalização. Menos dinâmica e mais pobre, a Europa, após a Segunda Guerra, não se reconfigurou radicalmente como os Estados Unidos rumo aos subúrbios, só acessíveis por automóvel. O Brasil, mais dinâmico mas também mais pobre que a Europa, mergulhou de barriga nesse lago sereno, que aqui virou periferização. O loteamento periférico é conseqüência da capilaridade do transporte rodoviário. Só que o pobre pé-de-barro ia mesmo de busão cata-corno pro batente. Esse foi um rebaixamento do planejamento urbanístico, pois permitiu o crescimento desnecessário da mancha urbana, agravou as deficiências de infra-estrutura, encareceu os custos com fiscalização. Graças à luz elétrica e a eletrodomésticos, puderam-se generalizar alterações construtivas. Rebaixaram-se os pés-direitos e reduziram-se as aberturas. Pôde-se dispensar tanto a luz quanto a ventilação naturais. Noutros termos, pôde-se adensar mais ainda, com conseqüências danosas para a saúde pública, como altos índices de doenças respiratórias, entre elas a tuberculose. As alcovas da casa colonial e oitocentista foram ressuscitadas.
Considerando-se que o Brasil é um país maduro, à portas da senilidade, é difícil imaginar cavalos-de-pau de renovação, que dirá reestruturação urbana. Em certos casos, como as favelas ou mesmo bairros formais populares, o passivo de intervenções passadas torna quase impossível cogitar intervenções mais radicais. O que aí está, permanecerá. Como o Visconde Reinaldo n’O Primo Basílio, a esperança é orar pelo terramoto.
[1] Alguns prédios que superam treze andares, valeram-se de brechas legais que, durante certo tempo, não contaram estacionamentos entre os pavimentos. Cf. CARDEMAN, David; Rogério Goldfeld Cardeman. O Rio de Janeiro nas Alturas. Rio de Janeiro: Mauad, 2004. [2] PEVENER, Nikolaus. An Outline of European Architecture. Londres: Penguin, 1970, 7ª ed, p. 426.





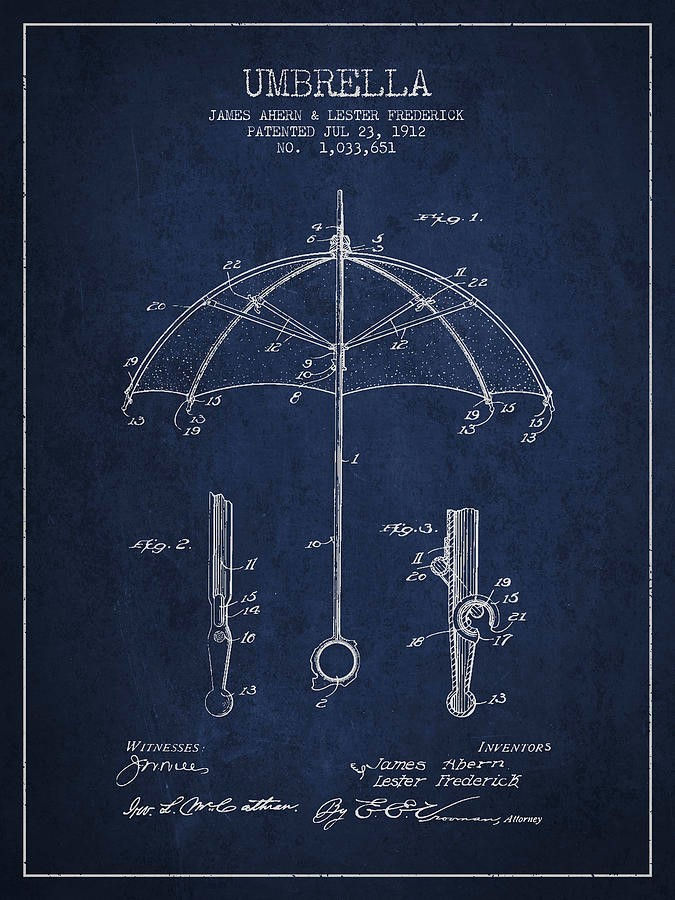

Comments