Eurocopa da Violência: um ano de guerra na Ucrânia
- Álvaro Figueiró

- 23 de fev. de 2023
- 19 min de leitura
Atualizado: 23 de fev. de 2023

O poder preditivo das ciências sociais é inferior ao dos búzios. Na década de 1980 sovietólogo nenhum adivinhou o colapso iminente da União Soviética. O melhor palpite foi dum autessáider, moleque ainda, o demógrafo francês Emmanuell Todd no ensaio La Chute Finale de 1977 que, fuçando estatísticas vitais aqui, bordejando ali atrás da Cortina de Ferro, provavelmente paquerando húngaras e tchecas, concluiu que o Império Soviético não se agüentava por mais dez ou quinze anos – isso é previsão até superior aos búzios. Se metade das agências espiônicas ocidentais dedicava-se a monitorar a União Soviética com a atenção requerida pelos tigres prestes a pular na nossa jugular ou, pior ainda, no nosso saco, ¿como então geral ignorou que a ameaça era de papel – e higiênico e rosa? Ora, uma comunidade de super-especialistas, sobretudo quando cimeira nas hierarquias, não tem como prever a dissolução súbita do objeto que lhe justifica o ganha-pão.
Enfim, o único futuro certo é que no final deste ano teremos Roberto Carlos Especial.
Rolemos os búzios sobre o tabuleiro de War.
Que mundo se desenha após o apito final da Eurocopa da Violência 2022–2023, primeira edição desde 1945? Quais equipes serão rebaixadas para Série B da geopolítica? Logo quando a bola e a bala começaram a rolar em 24 de fevereiro, publiquei um texto sobre o vezo imperialista russo para mostrar o papo-furado da guerra (“operação especial”) como medida preemptiva contra a expansão da Otan. Exceto pelo pressuposto, até onde sei unânime, de que a Ucrânia tombaria em poucos dias, as observações e projeções mostraram-se firmes. Até as anedotas verifiquei terem base sociológica (de fato, ensina-se nas escolas que o Alasca não foi vendido, mas só emprestado aos Estados Unidos!). Na verdade, evitei carregar a imagem negativa dos russos para não parecer que, além de conhecer mal sua cultura (verdade), nutro pinimba contra eles (mentira parcial).
As implicações da guerra ucraniana são mais graves do que muita gente espertinha pressupõe. Estamos vivendo o momento crítico da nossa geração, quiçá do século. Tal qual na década de 1930, metso babão, metso bobão, desenha-se mundo afora uma aliança rossobruna como dizem os italianos ou red-brown como os anglófonos. O clube rubro-marrom é quase tão selvagem quanto o rubro-negro: a broderagem entre extrema-direita e extrema-esquerda, vitamina de radicais-livres para desarranjar as “democracias” naziliberais heterocisnormativas laicolactoovossatanistas comedoras de animais e usuárias de maconha. Essa aliança hemorroidal é perigosíssima, pois a colaboração ocorre organicamente por confluência de interesses, sem nenhuma necessidade coordenação institucional. Ambos, em graus variados de radicalismo, propõem a aniquilação – inovadora ou restauradora – deste nosso imperfeito mundo bunda-mole isentão – por razões que explicarei noutro texto as sociedades liberais, desdo triunfo das revoluções burguesas, desprezam os moderados, os conservadores razoáveis, os reformistas cautelosos. E, em repeteco de anos 1930, parece que chegamos ao nadir da credibilidade das instituições democráticas, sejam públicas, sejam privadas.
Na inteliguêntsia e na opinião pública, há forte viés anti-americano que se traduz, nas atuais circunstâncias, em tênue viés pró-russo. Nos países periféricos, como o Patropi, o desejo de vitória russa ou, ao menos, de derrota ocidental é mais evidente ainda numa misto de multipolarismo sonhático com complexos de querer ver o andar de cima pegar fogo. Uma vitória russa, porém, significa a ampliação do campo autoritário, cujos reflexos decerto se farão sentir primeiro justo onde a democracia existe sim mas com a estabilidade dum perna-de-pau pedalando um monociclo por uma ribanceira minada: a América Latina.
A Rússia representa hoje a cabeça-de-ponte da aliança antissistêmica rubro-marrom que, aviso logo ao Jardim Escola V. I. Lenin, não propõe mais nenhuma revolução proletária global, muito pelo contrário, antes uma revolução oligárquica, uma Santa Aliança de terno e gravata. Menos que só sacanagem maquiavélica do Kremlin, a Rússia foi empurrada a esse escrotonésio protagonismo por determinações históricas. Como veremos, a) o Estado russo precisa estruturar-se como império tributário para continuar a existir; b) sua centralidade geopolítica depende do domínio e da satelitização de parte da Europa; e c) hoje, a única forma de reestabelecer o domínio sobre parte da Europa é enfraquecendo a democracia liberal nos países centrais. Essa é a temática da primeira parte deste textão. A segunda e a terceira, a saírem na próxima semana, tratam respectivamente dos riscos de contaminação fascista e dos possíveis cenários internacionais futuros.
Para quem ainda acredita em governo democraticamente eleito responsável perante os cidadãos, liberdade de associação e de imprensa e semelhantes babaquices, só existe um resultado bom para a guerra na Ucrânia: a Rússia tem de perder – e tem de perder feio.
1. Razões para a invasão russa
1.1. Causas estruturais: o discreto charme da tributação imperial
A Rússia nunca reviu sua trajetória imperial. Pelo contrário, persiste a noção de que o bem-estar nacional depende de dominar a vizinhança. O colapso soviético em 1991 não foi um caiu-a-ficha-bola-prà-frente como a trapalhada de Suez em 1956 para ingleses e a sangueira da Guerra da Argélia para franceses. De fato, a insistência com que as elites estatais e midiáticas russas se referem aos “Estados Unidos e seus satélites” não é apenas propaganda como também cacoete. Para essas elites, é inconcebível qualquer ordem internacional sem hêgemon, contra-hêgemon e satélites – é o autoritarismo doméstico transposto para o globo. Um manda, o resto obedece e alguém atrapalha.
Ideologia e psicologia não vivem de vento.[1] O visgo imperialista russa, melando até o povão, é conseqüência geopolítica e social. Jessé Sousa, como bom acadêmico, joga prà galera quando desqualifica de “racismo cultural” a tentativa de explicar nações a partir de traços comportamentais. Contudo, padrões comportamentais existem sim e, se são persistentes, a ponto de revelar um “caráter” nacional é porque estruturas subjacentes, geração atrás de geração, enformam tais padrões.
As estruturas subjacentes para a ideologia imperialista russa são a posição semiperiférica do país na economia-mundo; a possibilidade de dominação das periferias como meio de gerar certa centralidade, sobretudo em face do espelho europeu; a falta de tradição de campesinato independente e de classe média politicamente organizada; e a fragilidade intrínseca da arquitetura imperial. Num xis-tudão interpretativo, com, batinha, azeitona estragada, uva passa e maionese viajando: ao longo da história, a Rússia não conseguiu superar a lógica de império tributário – quer sobre os camponeses, quer sobre as minorias étnicas, quer sobre as províncias, quer sobre os satélites – porque esse modelo permitia não apenas a projeção de poderio na ordem internacional como também a elevação dos padrões de vida de certos setores ligados ao Estado. A Rússia sempre foi uma aldeia de Potemkin, embora menos de cartolina que de compensado. A superestimação da Rússia e da União Soviética como potência incorreu nos mesmíssimos erros dessa historiografia moderninha que, tentando bater recordes em saltar eurocentrismo com vara, sempre esbarra no fausto dos centros imperiais, onde se consumiam conspicuamente os tributos – o perspicaz Benjamin Franklin já constatara essa diferença em pleno século XVIII entre a Nova Inglaterra e a Europa, cujas conseqüências futuras são óbvias.
Vamos agora regurgitar esse xis-tudão pra degustá-lo de novo bem devagarinho.
Desdo século XVII, o poderio russo assenta-se menos na própria economia do que na subordinação de regiões mais prósperas e na superexploração dos súditos. O núcleo imperial russo é a região moscovita, de bases econômicas frágeis: distante dos principais mercados consumidores europeus, sem produtos exóticos suficientes, ultrapassada como rota comercial com o Extremo Oriente pela navegação, sequer muito propícia à cerealicultura pelo clima. Isso contrasta com a formação dos Estados modernos eurocidentais, onde foram as zonas agrícolas mais férteis e/ou os nós logísticos que se hegemonizam no espaço nacional – em certos casos, como na Alemanha e na Itália, a multiplicidade de centros impediu uma ascensão claramente hegemônica. A transferência da capital para São Petersburgo e as partições polonesas ajudaram a integrar melhor o império com a economia européia pela obtenção tanto de portos bálticos quanto de excedentes cerealíferos exportáveis da Polônia, onde, não à toa, no século XIX viriam a se implantar as primeiras cidades industriais “russas” (o ressentimento polonês sempre foi mais intenso contra os hermanos russos do que contra prussianos ou austríacos, pois havia a percepção clara do domínio por sociedade jeca-tatu). O paradoxo do centro atrasado dominando zonas avançadas patenteia-se na presença maciça de certas minorias étnicas – poloneses e bálticos-alemães – no governo, nas artes, nas ciências ao longo de todo o século XIX e mesmo além. Em certo sentido, a posição semiperiférica da Rússia recorda à do Império Otomano do século XVIII em diante: distante o bastante, geográfica e culturalmente, para não estar integrado no espaço europeu mais dinâmico; próximo o bastante para incorporar, com certo atraso, as inovações produzidas na Europa (armamento moderno, reformas militares e burocráticas). Paradoxalmente, a maior proximidade russa ao centro europeu – tanto do ponto-de-vista ecológico quanto cultural –, junto ao seu mamútico tamanho, talvez tenha freado a percepção crítica das diferenças e, de tabela, a avaliação razoável da urgência por reformas (a Turquia, mesmo patinando, tem mais tradição democrática que a Rússia, até porque o Império Turco-Otomano se fragmentou muito antes do russo/soviético).
A economia tangida por cnute tributário não mudou sob o comunismo. Como bem sabido, a veloz industrialização soviética fez-se às expensas do campesinato. Oquei, provavelmente qualquer industrialização é feita às expensas do campesinato, mas o caso soviético, no afã stakhanovista da Gulag Business School, qüinqüeplanejou produzir graxa com sangue. Tão logo acabou o coque camponês pras fornalhas, a economia brezhnevou-se. Traduzindo para o sociologuês:
A extração absoluta de sobretrabalho de abundantes contingentes campesinos, implicando no agravamento da sua pauperização, permitiu a capitalização acelerada para a indústria. Quando não havia mais sobretrabalho a extrair para financiar novos patamares de desenvolvimento industrial, quer porque a indústria era ela própria ineficiente e, portanto, incapaz de gerar capitais autocatalíticos, quer porque a base campesina encolhera pela urbanização, a economia estagnou.
Voltando à fala da rua: que nem o Brasil! Os soviéticos bolaram o Sputnik porque o povo vivia em caixotes de concreto e o capiau cagava em fossa; os brasileiros, mais fuleiros, bolaram plataforma de petróleo ultraprofunda porque o povo vivia em barracos de madeira e o capiau cagava em bananeira.
A estagnação a partir de meados da década de 1960 foi algo mitigada, outra vez, pela tributação imperial e deu sobrevida à União Soviética. A hegemonia sobre o Leste Europeu conferia aos russos condições muito vantajosas no comércio com países mais industrializados no Comecon, como Alemanha Oriental, Tchoslováquia, Polônia e Hungria. As porcarias que os soviéticos exportavam valhiam muito menos do que as porcarias que os camaradas europeus pós-nazifascistas exportavam (em Berlim Oriental, eles tinham dois tamanhos de djins!)[2]. A galera ressentia-se desse comércio como parceria-caracu. Para horror de Smith, Marx, Keynes, Schumpeter, Myrdal e talvez até de Maria da Conceição Tavares, chegou-se a equilibrar as balanças comerciais não por valor, mas por peso. Pensando bem, talvez a idéia tenha vindo da Maria da Conceição Tavares mermo.
Hoje persiste a tributação imperial, sobretudo sobre as regiões que bancam o setor primário. A pauta de exportação russa saiu do capítulo sobre a economia terceiro-mundista dum livro de geografia da década de 1980, daqueles impressos em preto, bege e vermelho – só faltam os produtos tropicais. Mais de 60% das exportações são hidrocarbonos e cerca de 10% são minérios (refinados ou não). A lista de matérias-primas segue: diamantes, madeira, trigo, peixe congelado. Cadê os papagaios? A exportação de manufaturas é mínima, isso num país com 140 milhões de habitantes, instruído, coladinho à Europa. É a mais gritante indicação da estrutural posição semiperiférica da Rússia na economia-mundo. (Talvez comparativamente tenha mais mérito que o Sputnik a plataforma de petróleo ultraprofunda na terra hiperperiférica da bananeira sanitária.) Como regra, as zonas que concentram o setor extrativista, sobretudo os Urais e a Sibéria, não recebem quinhões condizentes da riqueza, pareceria-caracu doméstica – pelo contrário, algumas das importantes cidades minerárias estão entre as mais inóspitas (passeie por Norilsk). Não se trata apenas da feiúra inerente às cidades mineradoras, mas desleixo deliberado: um quinto dos lares russos não tem água encanada; nas aldeias, a proporção sobe para dois terços.
Em suma, balé Bolshoi, Galeria Tretyakov, beira-rio petersburguesa, tabela periódica, cosmonautas, física nucelar, Mig-21, Tetris, tudo isso se bancou por um país pobre chupinzando gente pobre. Se o comunismo criou problemas para essa exploração, por outro lado, ideologicamente, apresentou perspectivas mais críveis de que os perrengues se pagariam mais cedo ou mais tarde no bem-estar coletivo. De novo, igualzinho à industrialização brasileira, não se pagaram, ao menos com juros e correção monetária: o urso soviético, após penar uma vida inteira no Grão Circo Serp i Molot, mal voltou ao bosque e caiu na armadilha da renda média.
Se os camponeses eurocidentais pareciam pobrinhos aos americanos dos séculos XVIII e XIX, os camponeses russos pareceriam miseráveis – em certo nível, pior até que os escravos. A comparação não limpa a barra do escravismo. Pelo contrário, sublinha que a tal da “servidão” do campesinato russo, extinta em 1861, na verdade era muito próxima à escravidão, inclusive nas sevícias e no nhonhô pai-d’égua (Tolstói era um grande comedor de servas). E, proporcionalmente, a servidão russa tinha peso demográfico muito superior ao do escravismo estadunidense – aliás, em vários aspectos, a Rússia é mais parecida com o Brasil do que os seus pretendidos êmulos/rivais/fetiches, talvez nessa ordem, Alemanha, Estados Unidos e Europa. Na Rússia, praticamente inexistia o camponês livre, um dos alicerces da transição para a democracia liberal.[3] Os poucos exemplos de campesinato mais ou menos livre achavam-se nas periferias, os ucranianos, os caucasianos, os emigrados voluntários para a Sibéria – mas a Sibéria nunca apitou nada nos rumos russos, nem mesmo agora. Muito se escreveu sobre o caráter igualitário do camponês russo, o que, em boa medida, era romantização, ora conservadora, ora progressista. Quanto à classe média, ela era pequena e dependente do Estado (nos contos de Chekhov, todo mundo é Barnabé Barnabov). O pas de deux campesinato oprimido e classe média presa ao Estado manteve-se em cartaz durante o período comunista. Sob o tsarismo, ascensão social era sair do campesinato e virar barnabé – o que significava recolher migalhas da exploração campesina. Sob o comunismo, realmente ficou mais factível sair do campesinato rumo ao alto barnabenato, a nomenklatura – o que significava receber fatias da exploração campesina. O que pouco mudou, tanto no tsarismo quanto no comunismo, foi a baixa produtividade agrícola. Essa relação assimétrica é uma das chaves para a arquitetura imperial russa. Ao custo de transferência dos poucos excedentes extraídos da ralé, alguns asseguram padrão de vida meia-boca e uns poucos concentram enorme poder. Intrinsicamente o sistema é incapaz de produzir muita riqueza.
Quem se beneficia desse modelo tributário? Em primeiro lugar, as elites estatais que conseguem projetar poder na ordem internacional muito além do esperado (pense num caso extremo, a Coréia do Norte). Tais elites cooperam estreitamente com os oligarcas, muitos dos quais fizeram fortuna não à toa predando ativos públicos ou abocanhando contratos leoninos com o Estado, ladroagem que, ao menos, consegue ser menos ineficiente que a gestão sob o comunismo. Também ganham as elites regionais, sobretudo nas zonas das minorias étnicas centrífugas (o melhor exemplo é Kadyrov na Tchetchênia com seu escritório onde tudo, até as tesouras, é de ouro). Mas, obviamente a sociedade russa há muito deixou de ser um Tchade com neve – os setores médios também precisam ser afagados. Tais setores médios encontram-se, sobretudo, nos dois pólos imperiais, Moscou e São Petersburgo. De fato, não é incomum ouvir dos jovens russos que o percurso esperado é migrar das sinistras cidades provinciais praquelas duas megalópoles supimpas e dali pro oeste-maravilha. A importância dessa classe média metropolitana para a estabilização do regime transparece nos ínfimos índices de alistamento militar de moscovitas e peterburgueses nesta Guerra Russo-Ucraniana. Por incrível que pareça, a ralé também se beneficia, uma vez que há as compensações clubísticas de pertencer a uma Grande Nação – vide a emergência quase patológica do culto à vitória soviética na Segunda Guerra Mundial nesses últimos anos de estagnação econômica: latas-velhas trazem adesivos marciais em delírios de tanque T-34 (Na Berlin, “Rumo a Berlim”, Možem povtorit', “Podemos repetir”) e a fita de São Jorge, que ia com as mais altas insígnias militares, se tornou adereço rueiro. O fenômeno é tão ubíquo que até ganhou o nome de “vitoriamania” (pobedobésie). A compensação psicológica pelo enxovalho doméstico ajuda também a explicar a megalomania de fiofósofos como Alexandr Dugin que, em pleno nocaute da Era Yeltsin, marombou um projeto de domínio mundial, incluindo o desmanche, pasmai, da China no seu Fundações da Geopolítica (um dos capítulos do livro é Rossja nemyslima bez Imperii, “A Rússia é inconcebível sem um Império...).
A arquitetura imperial russa, contudo, é pau-a-pique no barranco. Num perde-ganha, a Rússia vem ruindo desda Primeira Guerra Mundial. O velocíssimo e, no mais, pacífico colapso da União Soviética só se pode explicar pela fajutice da coesão estatal.[4] As regiões que conjugavam maior desenvolvimento econômico e maior consciência nacional foram as primeiras a tentar se pirulitar, notavelmente Polônia, Finlândia e os bálticos (nações com forte senso de identidade, sobretudo em função das variantes locais de cristianismo, como Armênia e Geórgia, eram economicamente atrasadas e só escapuliram no enterro-dos-ossos; a Ucrânia ficava a meio caminho, economia algo desenvolvida, nacionalismo incipiente). Os potenciais benefícios desenvolvimentistas que o centro imperial poderia trazer às periferias lesas (sobretudo, o Cáucaso e a Ásia Central) como escolarização, cosmopolitização, elevação dos padrões de consumo e industrialização encontraram, cedo ou tarde, seus limites, aliás como o projeto neocolonialista europeu, que, no grosso, talvez tenha sido bem menos feliz. Num contexto de estagnação econômica e ganhos assimétricos, o descontentamento com o centro imperial calha de conflagrar não só a zonas de concentração de minorias étnicas, mas, cedo ou tarde, mesmo as periferias de maioria russa. Cantarei uma regra geopolítica aqui, a qual modestamente pode ser chamada de 39ª Lei Geopolítica de Figueiró: Estados-nações autoritários não toleram que parte da nação exista organizada como outro Estado, pois implica na recusa explícita ao centro (para maiores esclarecimentos, conferir as 23ª e 28ª Leis Geopolíticas de Figueiró).
Nesse sentido, a Ucrânia representa mesmo enorme risco à Rússia, não no aspecto militar, como propagado, mas no político. Uma Ucrânia mais liberal, mais democrática, menos personalista, menos oligárquica contesta o modelo político russo (situação similar ao risco que Hong Kong e, mais ainda, Taiuã representam para Pequim). Por serem sociedades muito semelhantes (embora menos que pensa o etnocentrismo dos russos), quando Kiyv sinaliza o desejo de se aproximar ao Ocidente, inclusive nos modelos de governança, o Kremlin entende o recado: Kyiv está perguntando em voz alta o que teria a ganhar em seguir o rumo de Moscou e não o de Bruxelas. Logo logo, podem fazer a mesma pergunta em Kazan, Yekaterinburg, Vladivostok...
E, afinal, o que a Rússia tem mesmo a oferecer à Ucrânia? Muita coisa: necas, néris e também lhufas.
1.2. Causas conjunturais
Em 24 de fevereiro de 2022, Putin esperava um golpe-de-mestre, seu grande legado como estadista. Dias antes pronunciara um discurso que deve ter sido a peça mais maximalista nas relações internacionais desdo nazismo: ele simplesmente exigiu que a Otan retrocedesse às fronteiras de 1997, ou seja, abandonasse ao deus-dará de todos os países outrora pertencentes à Cortina de Ferro (salvo a Alemanha). Tanques rolando, brandiu arsenal atômico caso o Ocidente interviesse – outra bordoada retórica inaudita no pós-guerra. Esperava, portanto, vitória fulminante. O Ocidente ficaria aturdido, acovardado e desmoralizado. Com tal pé-na-porta, a recomposição futura da esfera soviética seria breve e a China daria em seguida outra traulitada na empáfia antlantista conquistando Taiuã. A russarada celebraria a restauração do prestígio nacional e a humilhação ianque – e ainda iam pedir o Nobel da Paz para Putin. Por cautela, já estavam amordaçadas as poucas vozes opositoras contra tal violação de direito internacional.
Como se viu, a Blitzkriegsky zicou.
Rússia = Prússia + (Brasil – sol)³
(Lembrete: na próxima invasão, conferir pneus e a gasolina dos tanques.)
Causas conjunturais determinaram essa tentativa de invasão total da Ucrânia em fevereiro de 2022; operassem outras causas conjunturais favoráveis, a invasão total poderia ter acontecido, digamos, com Gorbachev em 1991 ou com Yeltsin em 1995 ou com o próprio Putin em 2014. Pode-se perguntar acaso a Rússia precisava invadir a Ucrânia. Não, não precisava. Mas isso só no Reino Encantado Duendefada, o mesmo lugar onde a Alemanha percebeu que não precisava sofrer surto psicótico para ser um país rico, feliz, respeitado e tetracampeão. No Sistema Solar, planeta Nº 3, a recusa à Ucrânia pelos russos implicaria aos seus olhos admitir tanto papel coadjuvante no arrasa-quarteirão internacional quanto a urgência de penosas e longas reformas, inclusive ideológicas. Era mais fácil invadir. Pedir pras elites russas refrearem projetos imperialistas é o mesmo que pedir pro cracudo maneirar no pito (só não vou enaltecer os prazeres do poder e do craque porque nunca experimentei nenhum dos dois). No caso russo, os intervalos de 1991 a 2014 e 2014 a 2022 são como o tempo que o cracudo demorou para localizar, arrancar e vender um bueiro. Desde 1991, a Rússia está fissurada em pitar a Ucrânia.
As causas conjunturais para a invasão russa são esboços de contestação a Putin após uma década de estagnação econômica; a percepção de enfraquecimento americano em particular e da ordem liberal como um todo; a ansiedade de que a janela para a volta-por-cima russa esteja se fechando; e o vácuo ideológico do regime.
Muito do culto a Putin decorre de ele ter estabilizado e mesmo revertido as perdas, econômicas e sociais, da década de 1990 sem propor nada radical – o paraíso russo seria uma União Soviética 1961 onde iPhone, bolsa Gucci e carne custam uns tantos rublos e uns quantos copeques enquanto, em Cuba, os mísseis continuam apontados para Washington. Nos primeiros anos, Putin pacificou a Tchetchênia (e implicitamente todo o Cáucaso russo, salvando a unidade estatal), soube explorar o bum das comódites e xerifou o bangue-bangue oligárquico. Elevaram-se renda e padrão de vida, esboçou-se integração econômica com a Europa, acenou-se mesmo com o retorno do prestígio internacional. Após séculos de autocracia, tais sucessos deixaram subentendido que Putin tinha carta-branca para seu projeto de reestruturação nacional/imperial, cujo esteio era a coalisão entre silovikí e oligarcas – versão piorada do pacto verde-amarelo entre milicos fissurados em Brasil em Ritmo de Pátria Grande e grande empresariado doido para brincar no jet set: uns cuidavam da “pacificação” social; outros de encher o rabo de dinheiro. Contudo, após a crise financeira global de 2008, o horizonte nublou e o gênio de Yeltsin parecia prestes a sair da garrafa de vodca. Protestos pipocaram e quando russo protesta o regime está bambo. A anexação da Criméia em 2014 foi também xou de relações públicas, uma Guerra das Malvinas que funfou. A patrioteira vitoriosa garantia não só a permanência de Putin por vias eleitorais, mas referendava também o projeto mais agressivamente imperialista, que vinha se desenhando com saiberataques aos países bálticos e à ocupação parcial da Geórgia em 2008. A resposta calça-curta-frouxa da Otan à intervenção na Geórgia, à anexação da Criméia, à ocupação de Donetsk e Luhansk e aos bombardeios na Síria sinalizou para a linha-dura e para o povão patrioteiro que enfim chegara a hora de ressuscitar Vladimir Stalinovitch Romanov, o Urso Terrível. De fato, em 2014 as elites fraturam-se entre os que defendiam a liquidação da “questão” ucraniana e os que temiam que uma invasão total imatura poderia desestabilizar o regime (como talvez esteja ocorrendo agora).
O impasse foi dramatizado pela percepção, contraditória e correta, que, por um lado, o projeto imperialista russo não dispunha de muito tempo, pois os países europeus da antiga esfera soviética, para sobreviver, tenderiam a buscar amparo no Ocidente e mesmo na Otan; e, por outro, de que as democracias liberais, cada vez mais oligarquizadas, estavam vulneráveis a quem quer que se propusesse a mudar as regras do jogo internacional só falando grosso e chegando duro. Creio que três eventos sinalizaram a Putin que soara a hora da anexação da Ucrânia: primeiro, as seqüelas do coronavírus que não predisporiam o Ocidente a bancar outra recessão, mas também forçavam Putin a apresentar algum resultado positivo; segundo, a invasão do Capitólio que fez a Washington de 2021 parecer tão estável quanto a La Paz de 1931; terceiro, a retirada das tropas americanas do Afeganistão e a queda quase imediata de Kabul nas mãos dos talibãs. A invasão deve ter-se delineado no segundo semestre de 2021. Antes mesmo da concentração das tropas na fronteira ucraniana, a invasão russa prenunciava-se pela repressão à sociedade civil cada vez mais enérgica. Em dezembro de 2021, a Memorial, a mais antiga organização não-governamental de luta por direitos humanos na Rússia, foi fechada por decisão judicial. A mídia e ongues poderiam congregar e ampliar o discurso antiguerra e, logo, antirregime.
Outro tique-taque importante é a demografia, cujas tendências atuais fragilizam a arquitetura imperial. Putin já a afirmou como sua principal preocupação. Embora a população tenha estabilizado, após anos de quedas, o crescimento dá-se, sobretudo, pelas minorias étnicas, hoje pouco mais de 20% dos cidadãos. Teme-se que o domínio do centro, etnicamente russo ou a ele assimilado, se esvaia. Uma das razões para Moscou tentar anexar a Ucrânia ecoa a explicação para a fragmentação soviética – a Rússia em 1991 não tentou impedir a fuga das repúblicas centro-asiáticas como Cazaquistão e Uzbequistão, porque uma União Soviética sem Ucrânia e Bielorrússia teria reduzido os eslavos a minoria étnica. Entre as décadas de 1930 e 1950, os russos atingiram seu ápice demográfico em diversas unidades da federação. Desde então, vêm consistentemente caindo. Em 1959, os russos representavam o grupo étnico predominante na Tchetchênia com 49 % enquanto os tchetchenos eram 40%. Às vésperas do colapso soviético, os russos haviam caído para 25% e os tchetchenos subido para 66%. Em 2010, os russos eram só 2%. Sem dúvida o caso tchetcheno é peculiar em função das guerras separatistas e da autonomia única, mas só exagera tendências que se observam nas outras repúblicas. No Tartaristão, os russos declinaram de 44% em 1959 para 40% em 2010; em Buriátia de 75% para 66%; em Tuva de 40% para 16%; na Calmúquia de 56% para 30%. A posição imperial russa é, como a soviética, precária. Outra vez, o exemplo extremo da Tchetchênia é ilustrativo. Em poucos dias de 1944, os tchetchenos foram banidos todos para o Cazaquistão, onde permaneceram até 1957. Apesar de remoção tamanha, que faria Carlos Lacerda babar, os tchetchenos conseguiram absolutizar-se de novo no seu território nativo como se a conquista russa no Cáucaso fosse página virada. A questão é tão sensível que o principal líder oposicionista, Alexei Navalny, desponta em 2010 não só como paladino da moralidade pública, vergastando a corrupção das elites, mas também como etnopopulista, trombeteando o perigo das minorias étnicas – é o espectro do grand remplacement à russa. A anexação da Ucrânia, portanto, injetaria aos 140 milhões de russos mais 40 milhões de eslavos “facilmente” assimiláveis – nem que seja por meio de campos de reeducação, rapto de crianças, proibição de idioma, deportação, prisão, extermínio das elites, desqualificação da identidade como maquiavelismo estrangeiro, violência, destruição, fome, enfim nada que os russos não tenham praticado desdo século XIX quando os poloneses eram banidos para a Sibéria ou as catedrais católicas lituanas eram dinamitadas. Como muitas taras da extrema-direita, a proposta etnonacionlista “Rússia para os russos” (Rossija dlja russkikh), é contraditória com a sociedade almejada, que também é imperialista. Sem as minorias étnicas, a Guerra Russo-Ucraniana seria impossível: a sobrerrepresentação das minorias como bucha-de-canhão permite que o moscovita e o perterburguês banque o militarista sem perigar de ir para o fronte: no ano passado, as baixas da Buriátia, uma caixa-prego com muita gente de olhinho preto puxado, chegaram a 60%; esses pés-frios tinham só cem vezes mais chance de morrer na guerra que os moscovitas.[5] O próprio Putin – que, começando por abjeto e indo até zoiúdo, é muita coisa menos bobo – esculhambou a via etnonacionalista, que, em miúdos, significa encolher a Rússia e reduzir seu potencial de tributação imperial.[6]
A guerra ajudou a fixar a ideologia do putinismo, que se desenhou na fase de estagnação. Durante os primeiros dez anos, a ideologia não se colocou como problema. Enquanto a economia cresceu e o povão começou a ver alguma perspectiva de futuro pralém do fundo da terceira garrafa de vodca, as coisas não precisavam vir muito bem explicadinhas – como, aliás, em todos os períodos expansivos. Deixa o home trabalhar! E o home é machão, de mamilos durinhos, dá umas sapecadas nos ianques, nós gostamos disso! A coisa encruou quando pintou a estagnação dos últimos quinze anos. Não à toa, a primeira reação foi um viradão de suvenires soviéticos ao molho de cristianismo ortodoxo e raspas de tsarismo: Putin não só reabilitou Stalin, mas o próprio Nicolau II. A idéia subjacente é que, exceto por um ou outro lambão (Gorbachev, Yeltsin), o Estado russo jamais pode ser mau. O regime buscou desesperadamente qualquer meme que despertasse a lealdade do russo a um projeto político onde ele tinha de ser alegre pau-mandado.
Eis um problema multissecular na Rússia: como justificar a tributação imperial e o imperialismo, para o público doméstico e o externo? A verdade é que já se justificou de tudo quanto é jeito: bastião da única forma correta de cristianismo com sua Terceira Roma (Dostoeyvski que o diga); cabeça eslava contra austríacos, alemães, turcos e quem mais viesse pela frente; detentora de valores inescrutáveis ao materialismo ocidental, a alma russa, que explicaria porque o mujique agüentava tanta chicotada (dispensando assim a Rússia de tocar reformas sociais e políticas); líder da revolução proletária mundial; e, mais recentemente, fonte duma civilização única, o Mundo Russo (Russkii Mir) que caberia a ele, Putin, defender onde quer houvesse russo (e tem um monte de russo salpicado nas antigas repúblicas soviéticas...).
Em retrospecto, fica molezinha perceber que o comunismo foi gambiarra para amarrar ideologicamente um Império Russo sem tsar e ainda abocanhar aí uns territórios dando sopa – é verdade que foi a gambiarra com a embira mais forte, o único amarrado ideológico que os russos realmente conseguiram vender na feira-livre internacional por razões meio óbvias. Exceto pelas formas mais toscas de justificação – nós pilhamos vocês porque nós somos nós e vocês são vocês, o našism resumido –, as idéias-forças atuais para defender o regime putinista rondam o antiliberalismo, a contestação da ordem internacional, o antiamericanismo, o culto à força, à guerra e à vontade, o nacionalismo revanchista, o militarismo, a desumanização do inimigo. Alguns dos aspectos mais brutais dessas idéias-forças são articulados não pela burocracia, mas pela mídia e particulares (p. ex., os paramilitares do Grupo Wagner). No mato-sem-cachorro que se tornou a invasão, o envolvimento da Otan se ampliando, nenhuma perspectiva de recuo por Moscou, a tendência é o Kremlin buscar apoio nos setores mais radicais que cortejam tais idéias-forças. Consciente ou não, a Rússia estuda a engenharia-reversa do fascismo.
[1] O problema dalgumas análises é reduzir a visão imperialista a projetos políticos pessoais. Cf. ASSMAN, Aleida. “Er will das Imperium zurück”, Die Zeit, 21/06/2022.
[2] Isso foi uma piada, tá? Não sei quantos tamanhos de djins tinha em Berlim Oriental. Provavelmente 50% a mais.
[3] A Inglaterra, a pátria da democracia liberal, curiosamente fez essa transição política enquanto reduzia o campesinato ao assalariamento. Mas a Inglaterra é esquisitona pacas.
[4] “Sojuz nerušimy respublik svobodnykh / Splotila naveki velikaja Rus'!” cantava a velha canção, de cara, na cara e em dó maiorzão. Entendedores entenderão.
[5] BESSUDNOV, Alexey. “Ethnic and regional inequalities in the Russian military fatalities in the 2022 war in Ukraine”
[6] Kommersant, Путин осудил лозунг «Россия для русских», 17/02/2021, https://www.kommersant.ru/doc/4693917





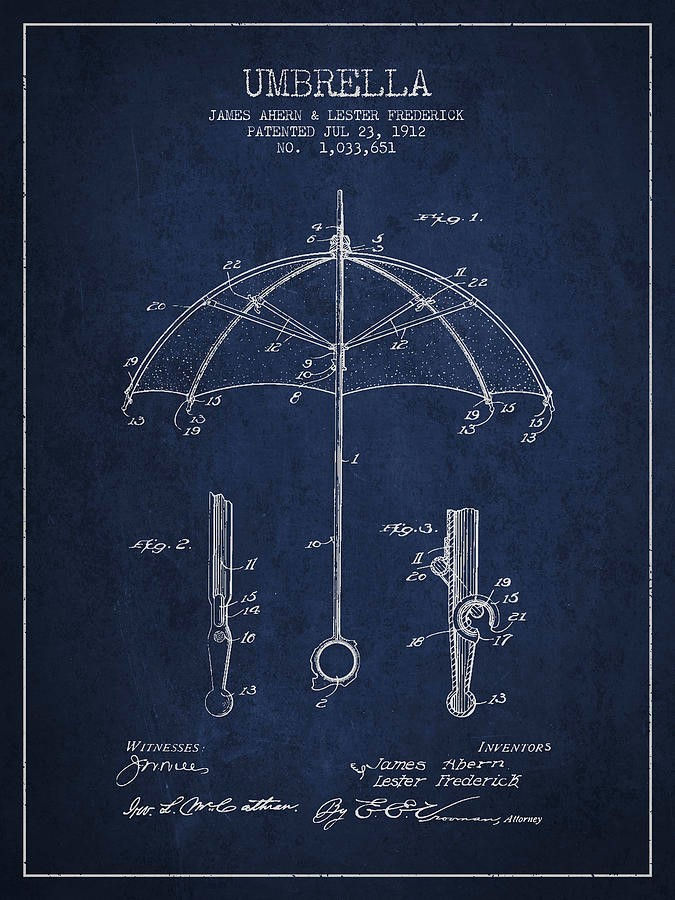

Comments