Contrafactualidades
- Álvaro Figueiró

- 13 de mar. de 2021
- 12 min de leitura
Atualizado: 19 de nov. de 2023
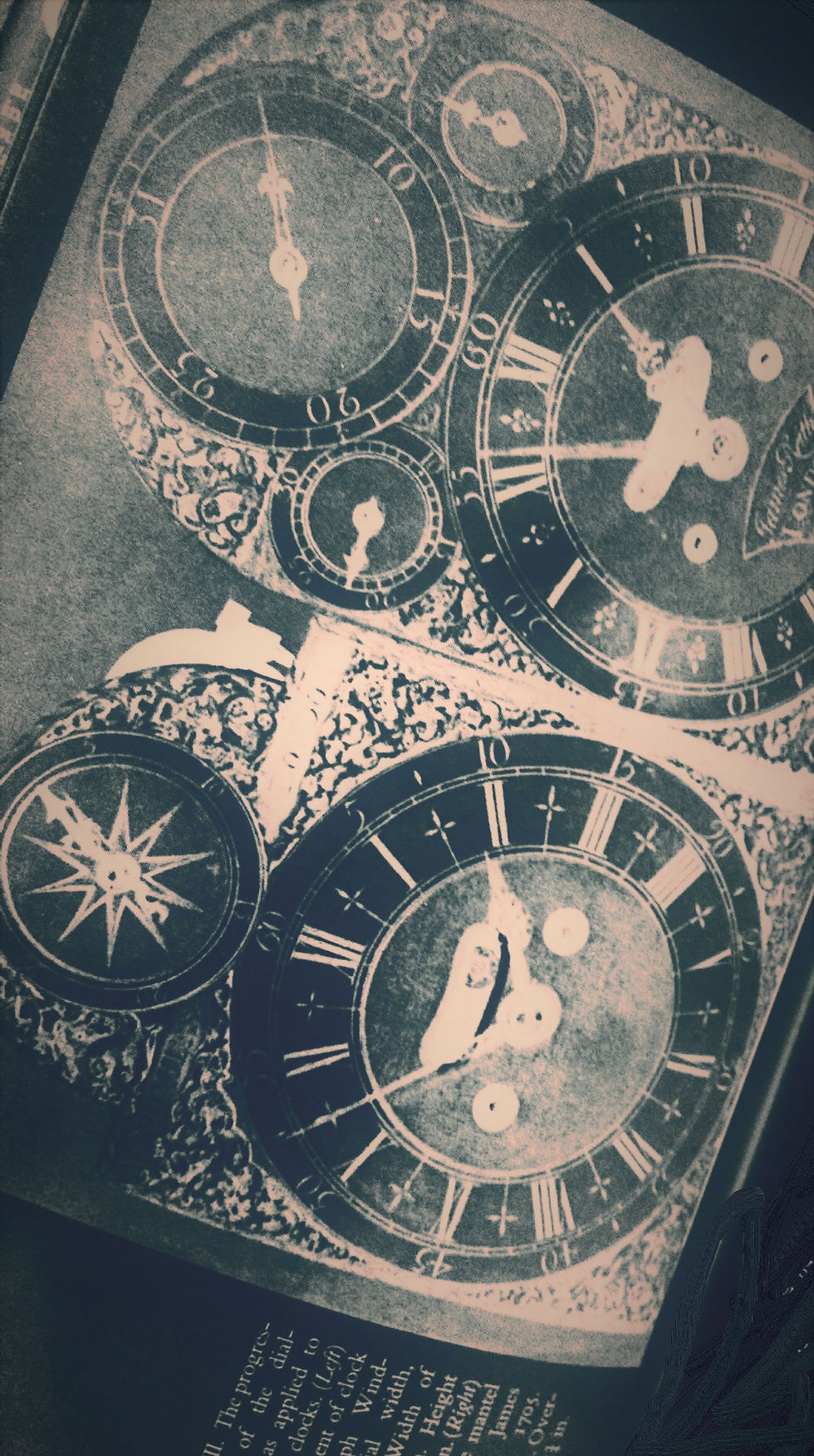
Minha virilidade já foi bastante atacada, de parquinhos a bares, mas só uma vez por questão filosófica. Além de culpadas pelo fraco escore no come-come, minhas perspectivas também endossariam a exploração do Homem pelo Homem (cai uma lágrima...) e superariam em stalinismo o próprio Stálin – isso tudo segundo um professor universitário, fora outras patadas dos escalões inferiores da fauna acadêmica. Nunca vi barraco tão estrepitoso em quase quinze anos de circo universitário e olha que sou um Carvalho Hosken de barracos, sejam os de marfim ou os de tauba mermo. Em qual polêmica extrema se metera a minha advocatícia mefistofélica? Negação do Holocausto? Defesa do apartheid? Elogio do roteiro de Titanic? Apologia de Eurico Miranda? Pior é que nem sustentava tese só para sondar outrem nem mesmo largava provocadas só pra aporrinhar geral. Candidamente exprimia minha convicção sobre como a realidade se estrutura, sobre qual é o Lego noumenal. Em suma, afirmei o absoluto determinismo de todos os eventos. Tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá é inevitável. A aplicação mais restrita desse postulado à História é muito simples: não há alternativa (e não só por causa da fórmula tatcheriana!). A ação humana é uma ilusão. Cientista social quando ouve isso, panca. Na verdade, o tempo nem existe pela predeterminação dos eventos que fazem a noção de passado, presente e futuro perder o sentido. O tempo é apenas uma forma parcial de percepção possível da realidade, a contraparte fenomenológica da impossível percepção simultânea do espaço todo. O jurássico, a civilização suméria, a Copa de 1970, agorinha mesmo e o carnaval do ano 38.276 são simultâneos. Como constatou o Cabeção da Malhação, “a festa foi, vai ser, tá sendo”.
Evidentemente, esse é só um corolário do mecanicismo do século XVIII e da sua reelaboração quasquasquás no XIX como monismo – concepções que, por seu turno, se afundam no passado do racionalismo, dos átomos de Demócrito passando pela Escola de Chartres e por Descartes. Se toda causa produz um único efeito e o universo se compõe duma substância única (a matéria, mas pode ser Cheetos também), logo tudo tem de ser determinado e, mais rigorosamente, pré-determinado. A sucessão de eventos – o tempo – já está escrita, portanto, na matéria.[1] Para o ditado da causa única gerando efeito único, há complicações aparentes na física quântica, mas no final veremos que há interpretações para as quais isso não faz muita diferença. Quanto ao monismo, ele mesmo é dispensável: supondo-se haver duas (p. ex., o espírito) ou mais (p. ex., Cheetos) substâncias universais, o fato de elas se interrelacionarem presumiria alguma forma de determinação. Certos teólogos do paleocristianismo já tinham sacado isso no forrobodó da predestinação e da graça: Deus acabava determinando tudo como primum movens. A crítica que filósofos da mente, como Daniel Dennett, dispararam contra o dualismo cartesiano vai pelo mesmo eixo hierárquico: se a mente é uma substância distinta e ela interfere na matéria, então, no fundo, tudo é substância mental (obviamente a explicação mais econômica é a mente como substância material). Mesmo admitindo pressupostos místicos com mais camadas que um mil-folhas, confesso-me incapaz de abjurar duma visão determinista. Para mim, o determinismo é o único signo da ordem e do racional, da cognoscibilidade das coisas. Essa é uma questão que, sem dúvida, preocupa a família brasileira.
Há pressupostos filosóficos que, quando trazidos à baila, escandalizam. Um deles é que entes supernaturais (Deus, santos, orixás, anjos, espíritos etcétera) são incompatíveis com o senso-comum moderno: ninguém mais fala a sério no “milagre da vida” quando pinta bebê no útero. Outro escândalo é esse transporte do monismo e do determinismo para a própria sociedade e para a própria História. Que as bolas de sinucas se expliquem mecanicamente, tudo bem. Mas as pessoas não são bolas de sinuca, pois são eterizadas pela fala, pela inteligência, pela física quântica, pela teoria do caos, pelo sei lá o quê. O Homem aparece assim num estalo ontológico, um Adão darwiniano. No referido barraco universitário, se mobilizaram todas essas armas que, presumia-se, abririam brecha no determinismo estrito, faltando apenas as mais explicitamente teológicas como graça divina e livre arbítrio. A única crítica que destoava era uma de natureza moral: abraçar tal mundivisão produz apatia e fatalismo. (Esse tipo de debate é sempre complicado por certa tendência moralizante nas ciências sociais. Qualquer tentativa de explicação mais heterodoxa passa a ser equiparada a justificação – a sociobiologia nas décadas de 1970 e 1980 que o diga.)
O rolo todo rolou pela enrolada dificuldade em distinguir níveis cognitivos. Mesmo a tradição sociológica com mais viés filosófico, o marxismo, se embanana nisso.[2] Existem explicações ontológicas e existem explicações heurísticas. Quando você está tentando explicar a temperatura do forno pro bolo não solar ou a política da vacinação contra o coronavírus, sempre vem um intelectualóide pra dizer tudo influencia tudo. Ele tem toda razão. Um peido em Inhoaíba interfere na órbita de Plutão. E a órbita de Plutão interfere no peido em Inhoaíba também. Só que, por não escalonar causas primárias e secundárias, essa explicação ontológica não traz nenhum ganho para se entender qualquer coisa – o historiador polonês Jerzy Topolski chamava isso de interacionismo, sem dúvida um vício como método.[3] É o mesmo que dizer “é tudo política”, “é tudo relação de poder” – logo tudo é nada. O plano heurístico é justamente o que procura criar métodos e modelos que simplifiquem a forma como podemos manipular e entender os fenômenos. Um determinismo estrito é só fundamento ontológico para a nossa visão de realidade; a compreensão eficaz de qualquer fenômeno tem de se fazer por vias simplificadas, até porque o cálculo da trajetória de todas as partículas do universo envolveria mais energia de que dispõe o próprio universo. Num exemplo mais concreto, ninguém prevê os tufões calculando a energia cinética de cada molécula da atmosfera (o que, aliás, significaria, outra vez, gastar mais energia do que há na atmosfera). Não à toa para certas classes de fenômenos – p. ex., a cinemática dos gases – desenvolveram-se métodos estatísticos no século XIX que se afastam dos cálculos da mecânica do Setecentos. Os princípios não deixaram de ser os da mecânica newtoniana; sua aplicação heurística é que não levaria a lugar algum. A estatística é conveniência. Nesse sentido heurístico, há sim um limiar de incognoscibilidade dos eventos que nos impede de prever o futuro ou ver o passado como estritamente inexorável. É nessa lacuna heurística – determinada, aliás, ontologicamente – que se cria nossa ilusão temporal, nossa percepção de acaso e livre arbítrio, nossas patadas nos deterministas talibãs.
Após esse itálico, chega de filosofia de boteco de cais do porto às 04:32 da matina após uma braba luta com garrafas. Aliás, tou zonzo de perder tanto sangue.
Das ciências sociais, a História, de longe, é a mais lesa. É a galera do fundão das Humanidades. O historiador sempre está papando mosca nas teorias, nas problemáticas, nos métodos – isso embora, entre todos os cientistas sociais, seja o usuário mais comedido nos psicotrópicos (quando, porém, o escrete historiográfico entra em campo, é o que dá menos canelada e bicuda e também come menos capim). Assim não espantará saber que alguns dos melhores debates sobre determinismo e acaso nos processos históricos tenham sido feitos em ciências que, numa primeira olhadela, não têm porra nenhuma a ver com a Revolução Francesa ou o Império Sassânida ou a pirataria no Caribe. Estou falando, sobretudo, da paleontologia.
O caso dos dinossauros tornou-se trivial. Foram pro saco só porque, na búlica asteróidica, algum pereba capou a bolinha de gude aqui na Terra. E assim nós, os peludinhos, viemos a dominar esta badalhoca solar. Dinossauro agora só os miudinhos emplumados que cantam à janela – também são fofinhos, tirante os pombos. Outra megaextinção, a do permiano, a mais roquenrol de todas (foi nessa que os trilobitas se lascaram de vez), também parece que teve causa espúria: radiação de supernova, aumento de metano nos oceanos, resfriamento global, crise de hipotecas, ninguém sabe, ninguém viu. Evento nenhum, porém, atiçou tanto a polêmica sobre acaso e determinismo quanto a Explosão Cambriana. Seus principais protagonistas foram o americano Stephen Jay Gould e o inglês Simon Conway Morris.
Gould foi célebre divulgador científico. Gordão, cara-de-broa, nariganga e bigodudo, Gould parecia tão bonachão quanto o pai dum amigo meu que, quando pegaram o filho matando aula para ficar no carteado, perguntou ao inspetor se o arteiro estava ganhando ou perdendo; e que também, ao chegar em casa na mor manguaça, abriu o tampo da vitrola para mijar. Esse era o tipo de coisa que eu acredito que Stephen Jay Gould faria. Cabelo-de-cuia desgrenhado, narizinho arrebitado, cara torta, vaga semelhança com Robert Fripp, Conway Morris é o esquisito. Quando doutorando na Oxford (a inglesa) pelos anos 1970, andava de capuz e falava em revolução social – isto decifrando fósseis de meio bilhão de anos. Assim não dá nem para citar a passagem bíblica da anatomia do macaco.
Só para contextualizar a Explosão Cambriana, um breguete que intriga os peagadeuses é que a vida surgiu na Terra tão logo as condições permitiram, mas os organismos multicelulares mais complexos demoraram um cacetão de tempo – mais precisamente três bilhões de anos. Só 500 milhões e blau de anos atrás, é que começam a aparecer fósseis animais de tudo quanto é jeito e um porrilhão deles. Em termos geológicos, isso é, como diria Zé do Caixão, praticamente ontem. A impressão que se tem é que a bicharada (isto é, se você acha que dá para enquadrar um priapulídeo entre a bicharada) apareceu meio que do nada e que, portanto, seria bastante provável que ela não tivesse de aparecer. Adeus, trilobitas, dinossauros, peludinhos, zoológicos tristes! Obviamente esses primeiros metazoários (isto é, se você não quiser chamá-los de bichos) eram pequeninhos, molengas, quase sempre sem carapaças, logo de difícil fossilização. Para a Explosão Cambriana, um dos raríssimos Lagerstätten, o nome bonito para os depósitos de fósseis responsas, vem do xisto de Burgess, uma caixa-prego canadense. Embora descobertos em começos do século XX, só na década de 1970 foram estudados sistematicamente e revolucionaram a paleontologia. Os fósseis apresentavam filos absolutamente carnavalescos (o filo é um dos níveis taxonômicos mais altos, definindo o desaine do animal). Isto é, apresentavam-se carnavalescos para quem estivesse predisposto a vê-los como esquisitices, pois, mesmo em Lagerstätten, a reconstrução de invertebrados exige queimar a mufa. E o esquisitão Conway Morris estava disposto a ver esquisitice e a queimar a mufa para ganhar o seu Estandarte de Ouro oxoniano. O abre-alas era a Hallucigenia sparsa, que andava apoiada em espinhos, uma minhoca panque em perna-de-pau. Mas a comissão de frente também trazia atrações tais quais a Opabina regalis que eu descreveria como o resultado duma suruba entre pernilongo, camarão e torneiras de cozinha industrial.
Em 1989, Gould publicou Wonderful Life, um sumário das reinterpretações no xisto de Burgess. Para o americano, o trabalho de Conway Morris[4] demonstrava que a evolução era contingente. Se a fita da vida fosse rebobinada (era no tempo do videocassete...), não necessariamente veríamos o domínio de simetria bilateral, não necessariamente haveria bípedes leitores ávidos deste Lesma no Saleiro. Contudo, nos anos seguintes houve uma reviravolta ou antes voltarrevira na interpretação do xisto de Burgess. A fauna fóssil voltou a ser vista em termos menos radicais, os carros alegóricos reinterpretados como meras versões de motor a manivela dos muitos filos ainda hoje existentes.[5] Até o fóssil-símbolo, a Halucigenia sparsa, foi vítima da mais clássica trapalhada da história da paleontologia: foi reconstruído de cabeça para baixo. Marsh manda lembranças para o plesiossauro de Cope. (A Opabina persiste, porém, na sua morfogênese surubesca.) Em vez de endossar a hipótese de Gould sobre a contingência da evolução, o esquisitão do-contra Conway Morris argumentou que as formas (agora não tão) esquisitas durante a Explosão Cambriana mostravam que a evolução seguia sim certo curso previsível. Se vida inteligente houver emergido também noutra buraca cósmica, argumenta ele, é de se esperar que tenha feitio humanóide, pois haveria etapas evolutivas lógicas (p. ex., a cabeça seria uma etapa lógica de concentração de órgãos de sentido e de processamento sensorial na direção do movimento e do alimento). Em 1998, Conway Morris até escreveu um livro para rebater Gould, The Crucible of Creation. É um livro bem esquisitão. Nele fala-se mal de Napoleão, quem acho que não viveu no Cambriano. Mas isso são coisas dum estilo peripatético. Esquisito mesmo é o pressuposto, na portinha, de que o sentido da evolução não é guiado por determinantes materiais, mas antes por ele, o cara que manda e desmanda no Cosmos, o chefe desta boca-de-fumo universal, Deus. Pare, pense e veja se esse título The Crucible of Creation não tem sacanagem...
Pode não parecer de partida, mas esse debate cambriano apresenta as mesmíssimas problemáticas que interessam aos historiadores, isto é, aqueles que não estão preocupados só em ensalsichar o Lattes: contrafactualismo, modelos, etapismo, evolucionismo, teleologia. Tudo tem seu cabimento.
O contrafactualismo virou piada pelas manipulações à SimCity, mas, no fundo, toda explicação histórica traz um quê contrafactual. Quando se afirma que a Revolução Industrial determinou a expansão neocolonial européia no XIX, fica implícito que se não tivesse ocorrido a primeira, não teríamos a segunda. O politicólogo Joseph S. Nye considera as hipóteses contrafactuais como experimentos mentais úteis quando a) plausíveis (ele cita como exemplo absurdo estimar o resultado duma Batalha de Waterloo com ataques de aviões); b) têm uma cadeia causal cronologicamente próxima; c) partem duma teoria sólida; e d) prendem-se aos outros fatos (isto é, não empilham contrafatos). “Some historians are purists who say contrafactuals that ask what might have been are not real history. Real history is what actually happened. Imagining what might have happened is not important. But such purists miss the point that we try to understand not just what happened, but why it happened.”[6] Esse experimento mental de hierarquizar as causas desemboca em modelos.
Os modelos, quando suficientemente rígidos, podem ser matrizes de etapismo. O filme dessa palavra já torrou quase tanto quanto “coach”, mas menos que por um absurdo intrínseco que pelo dogmatismo de quem procurou reconstruir etapas históricas. Quando se diz que não pode haver civilização (no sentido etimológico de civitas) antes da agropecuária, assinalamos talvez o etapismo dos mais óbvios. Quando João Bernardo correlaciona o cultivo de alimentos não perecíveis com a emergência do Estado, também se tem uma perspectiva etapista (o argumento do português é, em resumo, quando se permite a concentração da mais elementar forma de riqueza – a comida – e, logo, de poder, supera-se a lógica redistributiva do potlatch e instaura-se o tributo).[7] Para ter uma validade mínima, essas etapas só podem abarcar macroprocessos e manter uma inexorabilidade lógica: dizer que esta nossa sociedade bloguerinha interconectada lacradora lulopetralha bolsomínica depende da descoberta da eletricidade não ajuda muito; dizer que o desenvolvimento da perspectiva na pintura depende da emergência da consciência individual soa trololó. O caroço etapista engrossa em quase todas as panelas. Acadêmico que se preocupa em ensalsichar o Lattes não mete essa bronca com medo de falar abobrinhas ou obviedades. Talvez tenham razão.
Esticado, o etapismo pode desembocar na teleologia como se, pela sucessão lógica entre os eventos, o posterior estivesse contido no anterior ou mesmo que o anterior tenha de ser lido em função do posterior. O medievalista inglês Chris Wickham insiste nas vantagens de recortes temporais arbitrários por ajudar a negar o viés teleológico.[8] Contudo, é difícil não tentar interpretar a História por meio dos resultados que os eventos produzem, mesmo quando absolutamente contrários às intenções dos agentes (o paradoxo das conseqüências de Weber). Ninguém na Inglaterra durante o século XVII estava planejando industrializar o país, mas talvez seja infrutífero fazer uma análise ampla do Seiscentos sem considerar a vindoura Revolução Industrial. A teleologia não está nas ações mais ou menos conscientes das pessoas, mas numa diretriz do processo histórico, cujo desvelamento é a sobremesa do feijão-com-arroz historiográfico. Como no caso dos contrafactualismos, dos modelos e do etapismo, a teleologia requer tino e escala. Repito: tudo tem seu cabimento.
Para os incomodados com uma visão cósmica estritamente determinista, advirto que as possibilidades entreabertas pelos multiversos são mais estarrecedoras ainda. Numa das interpretações, existem infinitos universos comportando infinitos cenários. Antes que a alegria da abundância, entrevê-se o horror: se for verdade, existe aí um universo onde só há dor, sofrimento e tristeza. Você consegue imaginar tua vida um cadinho pior e, depois, bem pior – multiplique por infinito e esse é você num universo qualquer aí. Leigo e anaritmético (a tabuada de 7 ainda me causa calafrios), na minha confortável ignorância, via como gambiarra a interpretação da dualidade onda-partícula (o tal do morto-vivo gato de Schrödinger, quem, aliás, criou o exemplo pra zoar com a galera de Copenhague). Depois que li In Search of the Multverse de John Gribbin que regurgita evidências mastigadinhas para bangüelas intelectuais como a minha, dou-me quase por convencido de que aquilo que Borges tratou como ficção em El Jardín de Senderos que se Bifurcan é mesmo verdade. Borges é sinistro demais mesmo (no Brasil ainda acham o coetâneo Joyce de Cordisburgo o máximo).
E aí, freguês. Que vai ser? O pão-com-ovo determinista ou o xis-tudão dos multiversos?
[1] O tempo costuma ser atrelado ao aumento da entropia, mas isso não necessariamente implica nas noções de fluxo, como uma corrente que carrega os eventos. Ademais, esperando-se o bastante, o estado inicial dum sistema voltará a repetir-se (no exemplo escolar das bolas azuis e vermelhas, mais zilênio, menos zilênio, cada conjunto volta pro seu lado da caixa).
[2] Na minha babélica biblioteca, produto dum dedinho de erudição e dum dedinho de pobreza, veio parar um Philosophisches Wörterbuch da finada República Popular da Alemanha. No missal, o verbete sobre Determinismus é apavorante na tentativa de explicar como o determinismo dialético supera o burguês. Vão falar que é marxismo vulgar e, às vezes, é mesmo, mas ainda assim, para se sustentar tal oposição, se atropela a mil-pela-brasil o fato de que ora se trata de determinismo numa perspectiva ontológica, ora das suas aplicações heurísticas. KLAUS, George; BUHR, Manfred (ed.). Philosophisches Wörterbuch. Leipizg: VEB, 1971, 8ª ed, 1971, pp. 233-237, v. 1.
[3] TOPOLSKI, Jerzy. Methodology of History. Dordrecht/Varsóvia: D. Reidel/PWN, 1976, pp. 141-142.
[4] E dos buchas que viram nota de fim de página, fonte 6, no progresso da ciência.
[5] Veja-se o próprio artigo morde-assopra de Conway Morris sobre o xisto de Burgess em RUSE, Michael; TRAVIS, Joseph. Evolution: the first four billion years. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 2008, pp. 459-463.
[6] NYE, Joseph S. Understanding International Conflicts. Nova York: Pearson / Longman, 2007, 6ª ed, pp. 50-54.
[7] BERNARDO, João. “Cereais e Estado”, Marx e o Marxismo, v. 5, n. 8, 2017. Veja-se o seguinte trecho na p. 145: “O continente americano demonstra na sua história, alheia até aos últimos cinco séculos a quaisquer influências externas significativas, que a humanidade dispôs de um leque muito limitado de possibilidades de desenvolvimento social.”
[8] P. ex., WICKHAM, Chris. Medieval Europe. New Haven: Yale University Press, 2016, pp. 4-5.





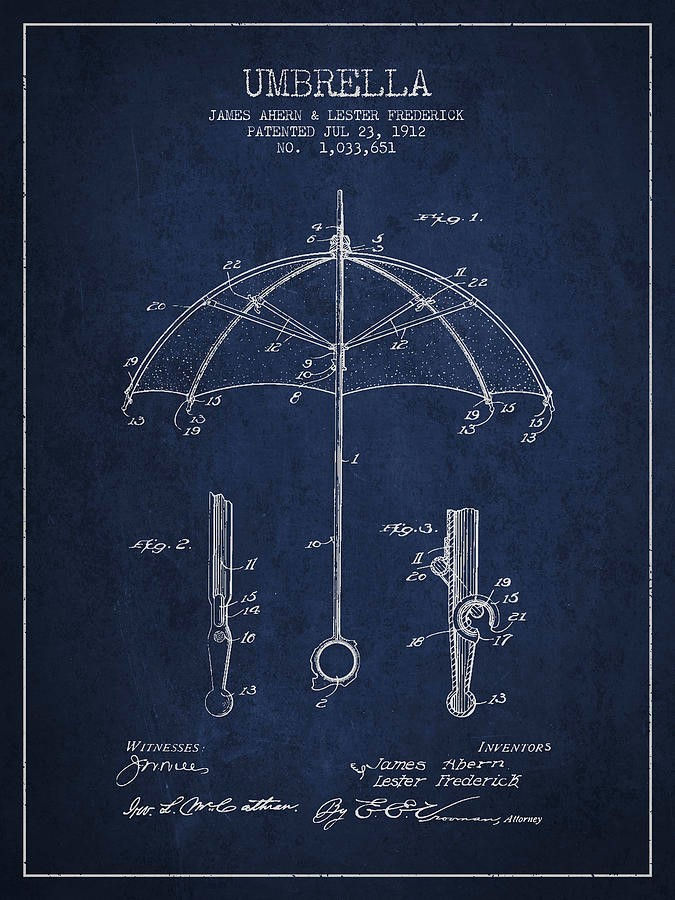

Comments