A Linguagem dos Especialistas: o caso da cerveja
- Álvaro Figueiró

- 6 de set. de 2022
- 11 min de leitura
Atualizado: 26 de jun. de 2024

¿Quem nunca bebeu uma taça de bom vinho e foi avassalado pelas notas (em graus conjuntos ascendentes) de mirtilos, arandos, araçás-azuis e jabuticabas-da-islândia terminando numa fermata de retrogosto – muito vago – de uva, algo que a psicanálise revela como fermentação agressiva contra a mãe dentro das dornas? ¿Quem nunca tomou uma boa cerveja e percebeu o paladar próximo à grande-área contra-atacado por um amargo 4-4-2 botinudo, suavizado, durante o segundo-tempo degustativo, pelos perfumes das mãos macias das garotas renanas que colheram o lúpulo após se beijarem e rolarem pela relva ensolarada a explorar, delicadamente, suas mucosas mais úmidas e profundas – e loira se chama Helga e a morena Margaret? ¿Quem nunca deu talagada numa boa cachaça e sentiu a língua endurecer em lâmina de peixeira eviscerando um rival ao ritmo dum maracatu de Egberto Gismonti?
Quem?
Debochar das viagens-na-maionese-de-ovo-de-ararinha-azul-com-azeite-de-argão dos enólogos e someliês é fácil como rir dum belo tombo, aquele no qual o acidentado catapulta as duas pernas pro ar (você está rindo aí que eu sei). Mais ainda agora que inventaram o cachachiê (o que me lembra duma esquete perversa sobre gastronomia de mendigo). Mas, como a fisica, para melhor rir do tombo, teorizou a gravitação universal, vamos entender os entendidos. Eles de fato escrevem assim, ó: “In either version, you are likely to encounter elusive notes of wine, wood, leather, hazelnuts, golden raisins, or prunes, to name just a few.” O leitor invoca: cadê o rabo de rato, pata de pato, couro de cobra, corno de cabra? Talvez no etcetérico “just a few”. Gostinho de vinho, a bebida pode ser tudo menos vinho; é cerveja inglesa, a Thomas Hardy’s Ale. O mesmo autor avalia a alemã Salvator como possuindo “aroma of rich maltiness, dark fruit, chocolate and caramel”.[1] Por que não frutas vermelhas? Ou amarelas? Ou túti-frúti? Num guia mais recente, há tantas sensações em certas cervejas que um copo vale por almoço e janta:
“potent fruity aroma and flavor characterized by apples, orange zest, hints of banana, with underlying spiciness reminiscent of cloves, and a touch of hoppy bite in the finish.”
“It has a grainy, biscuit aroma with hints of vanilla and honey, and a sweet malty flavor balanced in the finish by a light hop bitterness, although it risks being overpowered by its high alcohol content” [2]
Antes de acusar os someliantes de charlatanismo – farei isso lá na curva –, convém lembrar a incompreensão que nos circunda quando queremos descrever uma experiência olfativa ou gustativa intensa. Durante um almoço, explicava por que desistira de freqüentar certo restaurante: o pimentão-verde tinha gosto de fita-cassete; mais precisamente, fita VHS; com mais casas decimais ainda, da fita VHS quando se abria a caixa plástica de proteção. Daí prà frente, dízima periódica. Era exatamente isso, fita VHS quando se abria a caixa plástica de proteção, sem metáfora, só metonímia. Seria tapeação dizer que o pimentão era ruim, artificial, agrotóxico purinho. Ele sequer fedia; tinha o cheiro inócuo dos pimentões. O gosto é que era de fita VHS quando se abria a caixa plástica. Ali havia correspondência plena entre objeto, quália e linguagem: pimentão-verde + boca = fita VHS quando se abria a caixa plástica. Pois, em meio a esse achado sensorial, um coralzinho de verdade nestes sempre batidos litorais, perguntaram se eu já tinha comido fita VHS, riram de mim como se eu tivesse levado um belo tombo. Eis-me na posição de someliê de pimentão. Depois dessa, fiquei até com pudores de definir o odor do ximêdji como o de piru mal lavado ou dizer que certa cerveja deixava ressaibo de chulé com medo de suporem perversões erogastronômicas.
De longe, o vocabulário sensorial para o olfato e o paladar é o mais chinfrim. A experiência depende da idiossincrasia expressiva de cada qual ou das comparações, mais ou menos, bem-sucedidas (a do pimentão-verde com a fita VHS, joinha). A quantidade de categorias abstratas pelas quais geral pode concordar é mínima. Isso não ocorre com os outros sentidos, sobretudo a visão e a audição. Se eu disser “pirâmide vermelha”, “curva preta”, “cone azul”, todo mundo entende. Até uma “coluna branca de seção hexagonal” se visualiza bem após uma explicação, que, no pior dos casos, envolve o desenho do que é hexágono. Música é mais complicado, mas uma terça menor descendente soa o toque duma campainha ou o grito arquibaldo de “Mengo! Mengo!” ou a sirene de polícia pra prender essa gentalha rubro-negra – outra vez, no pior dos casos, você parte para o concreto e toca no piano (ou no contrafagote se esse calhar de ser o teu instrumento). Para odores e paladar, de comum, só se tem doce, azedo, amargo e salgado. Até isso pode ser muito. Garcia d’Orta, em meados do século XVI, afirmava que, na Índia, se ignorava o salgado: “a gente desta terra não tem mais que três sabores, scilicet, doce, e azedo e amargo, e ao que lhe sabe bem, como não é amargo, lhe chamam doce”.[3] No primeiro tratado cervejeiro, de 1585, o boêmio – geográfica e quiçá etilicamente – Tadeu Hagécio (ou Thaddaeus Hagecius, ou Tadeáš Hájek z Hájku ou, entre amigos, Tatá Pilék), afirmava que o pão líquido só tinha os seguintes sabores que citarei em latim por esnobismo e por feitiçaria gizando aqui o meu pentagrama na esperança de se materializar uma Hoegaarden geladinha: “Sapor Cervisiarum est aut dulcis, seu subdulcis, aut amarus, seu subamarus: ac triticeæ omnes dulcescunt: hordeaceæ verò aut sunt amaræ, aut saltem amarescunt, prout plus vel minus recipiant lupuli.” [4] O que a Retífica Latina Figueiró recauchuta como: “O sabor das cervejas pode ser doce, adocicado, amargo ou amargoso. As cervejas de trigo são todas doces; as de cevada são de fato amargas ou se amargam conforme se acrescente mais ou menos lúpulo.”
Como então foram parar na cerveja o rabo de rato, a pata de pato, o couro de cobra, o corno de cabra? Qualquer bruxa com mais de sete verrugas no nariz sabe que poção mágica se destila devagarinho (nem toda noite é lua-cheia). O mago que operou o sinsalabim na cerveja foi Michael Jackson. Não, não, NÃO! Não esse em quem você está pensando! Falo do especialista inglês em birita. A única coisa comum entre os Michael Jacksons é que ambos estão mortos. Eram brancos também, mas o britânico começou primeiro. Em todo o caso, para não deixar dúvida do seu ofício, o Michael Jackson biriteiro tinha uma baita cara de pinguço, barba tostada de nicotina, tufo revolto perdido na calva, paletó de madruga ao relento, olhos moles, boca sacana. Até pelas fotos o cara tresanda. Em 1977, Jackson escreveu o livro seminal para a someliezação da cerveja, The World Guide to Beer. Em boa medida, a obra reagia contra a padronização das cervejas que o Reino Unido vinha experimentando pela emergência de marcas nacionais. Em nome da racionalização dos custos de produção, distribuição e márquetim, cada vez mais a variedade de cervejas britânicas, geralmente de fabrico regional, se afunilava na pilsen.[5] No livro, discutiam-se formas de fabrico, tipos de cerveja, aditivos, flavorizadores, preferências nacionais, história das marcas, hábitos beberrões, bares, anedotas, mitos. Um ponto que chama a atenção é que Jackson não arrisca nenhum moonwalk nas avaliações. Há quase sempre o bom-senso que se esperaria dum comparsa de boteco mais eloquente após um gole apreciativo (ainda assim, seria zoado como fresco pela mesa inteirinha):
“The beer is paler than Pilsner, with a very characteristic bouquet, a mild yet hoppy palate, and a slightly sweet after-taste.”
“This 20º Martinský Porter is a heavy but reflective dark brew, with a fine taste of charred malts, and a well-hopped palate.”
“Its fruity palate is also very malty, yet it remains sharply refreshing.”
“Lamot is another major pils with a less than aggressive palate and a very smooth taste.”
“All Guinness is brewed with roasted malts, and some roasted unmalted barley, providing the dark colour and full body with which accompanies the characteristically bitter and well-hopped palate.”
“It is also one of the world’s most unusual beers, combining a powerful body and dry roasted-malt palate with a sharp acidity.”[6]
Raras são as estrofes penumbristas como estas dedicadas à kriek lambic da Liefmans (nunca provei, mas meu aniversário taí no próximo mês, ó fãs do Lesma no Saleiro.): “Although the brew’s bouquet should betray its origins, the fruit tang should counterpoint with a refreshing acid sharpness.”[7] O momento Rimbaud explica-se, em parte, pelas peculiaridades dessa cerveja que, conforme diz o nome, leva cereja no mosto. Já já veremos as causas dessa bachiana gustativa.
A poesia hermética dos somelistas dá um belo estudo sociológico sobre as interações entre pequeno e grande capital, hiperespecialização profissional em contextos de mão-de-obra supérflua, busca por prestígio, to name just a few.
Nos países com tradição cervejeira, a mesma prosperidade que impelia magnatas de piteira e monóculo para enormes fábricas computadorizadas esguichando pílsen assegurava espaço para pequenos investidores se especializassem em produtos distintos, fossem fórmulas tradicionais, fossem fórmulas novas. Nossa amada Hoegaarden começou em 1966 (o rótulo mente) quando o leiteiro sentiu saudades da sua bebida preferida (que não era leite) após a cervejaria local fechar. O salto de cervejeiro caseiro para microcervejaria não é tão ousado para quem não está no porquinho – afinal, na Bélgica, você não vê muita gente vivendo de revirar lixo ou roubar bueiro. Em relação ao vinho, a cerveja traz vantagens ao microempresário: cerealicultura é mais elementar e barata do que fruticiultura – viticultura pior ainda – logo a matéria-prima é bastante acessível; ademais a cerveja se faz com diversos cereais por diversos métodos e se aromatiza por diversos meios em diversas proporções. É, portanto, bebida bastante versátil, propícia ao âmbito “artesanal”, nichado. Pierre Celis, o pai da Hoegaarden, que o diga.
Essa, a perspectiva da oferta. Pela demanda, a causa primária é que a mesa de bar vinha proporcionando menos sensações que o mictório (uréia encorpada com cloro, buquê de naftalina e notas de esmegma). A causa secundária é que as cervejas artesanais, mais caras, permitiam criar distinção social numa bebida extremamente popular, consumida desdo peão até o empreiteiro. Uns calhavam de gostar só dos sabores diferentes; outros, só da distinção social; a provável maioria, de ambas as coisas. Marcas e estilos pululam. Quem nem sabia o que era malte e lúpulo, olha agora o cardápio e apalerma-se diante duma Imperial Russian Stout.
Entra o someliê.
Em tese, ele deveria explicar o que é malte, lúpulo, Imperial Russian Stout, sugerir bebidas, denunciar caôs publicitários. Na prática, ele aprofunda o fosso entre os especialistas e os leigos, ou melhor ainda, entre os iniciados e os não-iniciados. Da mesma forma, a função da etiqueta à mesa – faca para tirar meleca à esquerda, garfo para coçar o cu à direita – é identificar quem pertence ao meio social certo, indigitar os impostores, os arrivistas. O someliê, como mestre-de-cerimônias, garante que tomar cerveja se ritualize. Não que antes já não fosse – brindes, papo-furado, aperitivos, olhares lascivos com boca fazendo bico, jogo de futebol na tevê, partida de truco, sinuca, briga de garrafa. Mas o ritual se reatualiza e, portanto, como toda sabença nova, é para poucos: temperatura ideal, copos apropriados, ordem de apresentação, etapas da análise sensorial, harmonização com comida (o que, aliás, permite empurrar outra conta). Nem todo boteco, nem toda clientela estarão aptos ao novo rito.
A Humanidade sempre adorou Hierarquias, indo ao ponto de inventar a corrida-do-saco (na qual, sem querer me gabar, me sagrei campeão inúmeras vezes). Onde não há nada muito objetivo para estear a Hierarquia, apelamos para outra constante humana, a Otarice, inventando çaberes. Quando universitava na Oxford Fluminense, já pontificavam os pós-doutores de cerveja, que na época eram todas chá de milho. Antes de sequer pensar em sentar, os cervejólogos exigiam Antarctica Original ou, quando a bolsa escragiária fora paga poucos milissegundos antes, Bohemia. A Itaipava e a Schincariol empapuçavam, eram rechaçadas como aguadas, uma profanação ao seu paladar criterioso. Só alguém numa sarjeta no fundo do poço da Rua da Amargura beberia Itaipava ou Schin. Nem os mendigos da praça desciam a tanto. Alguém que pedisse tais cervejas não sabia beber, era melhor ralar peito voado pra casa, tomar Toddyinho em caixinha e ir mimir bem cedinho. Logo logo o mais popular dos bares foi interditado porque trocava os rótulos. Todo mundo, inclusive os sabichões, tomava é Schin.[8]
O someliê, portanto, quando leciona cervejologia, só atende aos anseios dos consumidores que querem enciclopédias dentro dum copo (de preferência, não o americano). Mas, assim como há saturação de marcas, também há saturação de someliês. As cervejas gurmês tentam te convencer das suas delícias únicas e o someliê precisa apresentar-se como proprietário dum focinho muito mais sofisticado que o dos seus concorrentes, inclusive, presume-se, o do nosso fiel amigo cachorro, que não é só mais amigo nosso porque não nos acompanha na birita. Lendo os guias cervejeiros, percebi três coisas curiosas: 1º) ao longo do tempo, as avaliações se tornaram mais viajandonas; 2º) há forte correlação entre a raridade do estilo ou da marca e avaliação viajandona; 3º) há forte correlação entre julgamentos positivos e avaliação viajandona.
Esmiuçando o segundo ponto: quanto mais popular é um estilo ou uma marca, menos o someliê arrisca avaliações fora do paladar comum. Não há notas de asas de borboleta-da-malásia na Bud Light ou caixa plástica de fita VHS quando aberta na Quilmes. A Hoegaarden é cítrica e refrescante – afinal, leva casca de laranja mesmo, logo o gosto tem mais a ver com a química que com a parapsicologia. É, contudo, a avalição extravagante que, em boa medida, atrai a curiosidade do leitor para certa cerveja. E um someliê capaz de detectar sutilezas exclusivas parecerá mais çábio.
Esmiuçando o terceiro ponto: tal qual o apaixonado declamando a plenos pulmões que a sua amada faz o melhor pão com ovo do mundo, o someliê, quando se encanta por uma cerveja, atiça toda sua verve poética. Isso só é charlatanice em parte. De fato, o olfato – a base do paladar – é o único sentido cuja fiação neuronial se pluga direto nos centros emocionais do cérebro.[9] Proust já sabia disso. O someliê está descrevendo antes um estado emocional do que uma experiência sensorial mais ou menos objetiva – e o leitor está tendo um prenúncio sinestésico de biricotico. Daí algo das avaliações condoreiras: estamos lidando com pura linguagem poética.
Esmiuçando o primeiro ponto em terceiro lugar: é possível que o ápice viajandão já tenha sido atingido e estejamos voltando a atmosferas menos rarefeitas.
Mencionei Garcia d’Orta e talvez a situação dos someliantes seja similar à da bostânica quinhentista onde uma árvore ou um fruto nunca se descrevia plenamente em função de características abstratas, mas por comparação a outras árvores, a outros frutos, outras coisas até. Com o passar do tempo, as notas de abracadabra e os retrogostos de rebimbocas talvez morram de cirrose pelos abusos: tanto os someliês quanto os consumidores chegarão a um destilado de bom-senso-comum, expandindo nossa capacidade de apreciar a vida como saber, não como mistificação. Poesia, boa poesia, afinal, também pode ser uma forma de verdade.
Oremos.
Rabo de rato, pata de pato,
Couro de cobra, corno de cabra.
Mangalô, pé de pato três vezes!
Mangalô e saravá também!
Hosana, axé, evoé, amém!
Sapor Cervisiarum
Est aut dulcis, seu subdulcis,
Aut amarus, seu subamarus.
Notas de rubis e metais raros,
Frutas roxas podres, doces caros;
Ácida cor de blecautes claros;
Buquê de lulas e bolsonaros
Envelhecido em brabos preparos
Pra finos gostos e finos faros.
Alô, caganeira! Aqui paro.
Anexo metodológico
A metodologia para análise dos someliês poderia ser refinada pelos seguintes passos:
a) Estabelecimento dum córpus de guias cervejeiros da década de 1970 até hoje, fragmentando-o em períodos. Escolhem-se guias em inglês, francês e alemão, por representarem idiomas de grandes centros cervejeiros (Inglaterra, Bélgica, Alemanha).
b) Comparação das avaliações das cervejas ao longo do tempo, considerando-se:
1) O léxico empregado e seus contextos;
2) Os quesitos empregados;
3) Quais as correspondências e discrepâncias nas avaliações da mesma cerveja pelos someliês diacrônica e sincronicamente;
4) Como os someliês explicam avaliações divergentes entre si;
5) Estratégias discursivas dos someliês quando ingressam no campo profissional ou quando já estão estabelecidos.
c) O CNPq ou a Faperj também já pode me adiantar uns cobres prà degustação, sendo a primeira parcela destinada à kriek lambic da Liefmans.
[1] SNYDER, Stephen. The Beer Companion: a connoisseur’s guide to the world’s finest craft beers. Londres: Apple Press, 1996, pp. 54, 74.
[2] JACKSON, Robert; KENNING, David. The Complete Guide to Beer. Bath: Parragon, 2009, pp. 117, 102.
[3] ORTA, Garcia da. Colóquio dos Simples e Drogas da Índia. Ed. do Conde de Ficalho. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1987, p. 208, v. I.
[4] HAGECIUS, Thaddaeus. De Cervisia, ejusque Conficiendi Ratione, Natura, Viribus et Facultatibus. Frankfurt: Andrea Wechel, 1585, p. 39, cap. XI.
[5] No texto, vou usar pilsen no sentido genérico duma lager que segue a Lei Bávara de Pureza, empregando só malte de cevada, ou, como se interpretou no Brasil e nos Esteites, da lager que tira o alimento das pobres galinhas para saciar nossa sede. Em todo o caso, vale como sinônimo da cerveja industrializada hegemônica e indistinta.
[6] JACKSON, Michael. The World Guide to Beer. Running Press: Filadélfia, 1984, pp. 32, 35, 58, 133, 159, 234.
[7] JACKSON, Michael. The World Guide to Beer. Running Press: Filadélfia, 1984, p. 122.
[8] Outra vez ouçamos Michael Jackson: “When Test Achats magazine carried out a sampling of unidentified pils beers, including a score of Belgian popular imported brands, no brew was recognized consistently by the majority of tasters.” JACKSON, Michael. The World Guide to Beer. Running Press: Filadélfia, 1984, p. 131.
[9] ROTH, Gehard. Aus Sicht des Gehirns. Frankfurt: Suhrkamp, 2009, 2ª ed., p. 30.





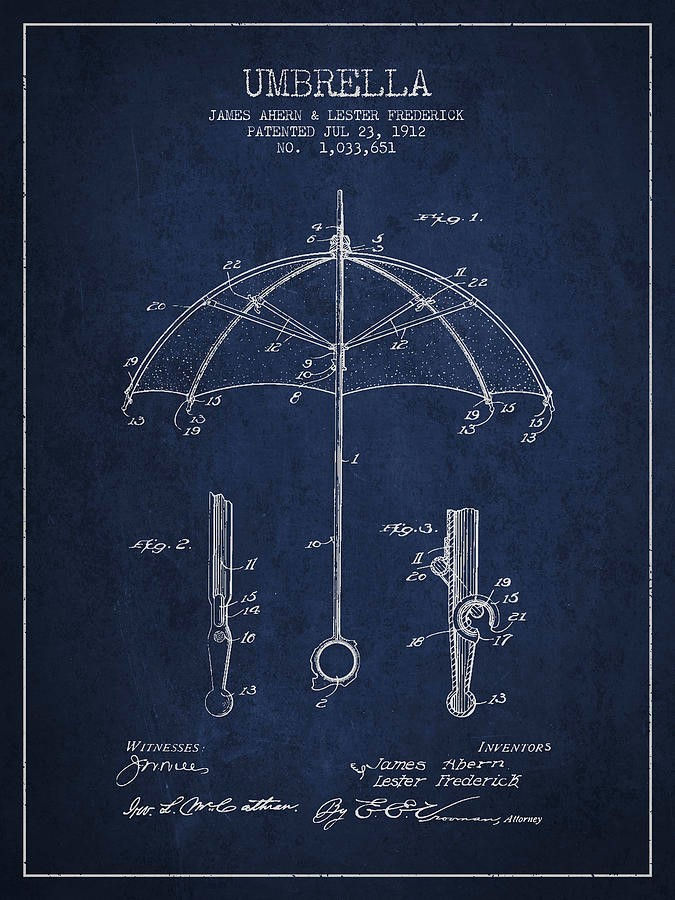

Commentaires