Notas Infoliãs: acumulação e tristeza
- Álvaro Figueiró

- 17 de fev. de 2024
- 11 min de leitura
Atualizado: 24 de fev.

I – Acumulação
Entre os remorsos de ingressar no Instagram está confirmar existirem mais variedades de chocolate numa caixa de Bis do que idéias no planeta. O sápiens nunca estará preparado para os prazeres neuróticos da mente. De plataforma para saltos mortais de bafafás, o Instagram desbundou em bafo-bafo. Veja essas figurinhas! Em vários perfis, o mesmo vídeo montado em Luís Antônio Simas sobre o Carnaval. Simas virou não só expoente-mor do regionalismo suburbano na literatura boi-pé-duro, subúrbio jorgeamadoresco quase, como também grande tacador de milho. Para Simas, no vídeo e fora, o Carnaval não é aquele tempo suvaqueiro para se fantasiar; andar semi-hemi-sesquinu; amostrar o corpitcho sarado, surrado ou sem-sal; esbarrar nos outros sempre sem saber se vai rolar papo, flerte, briga ou furto; beijar trinta bocas como se isso fosse melhor e mais prático que tocar bronha ou siririca; coletar na sola cacos e vômito; fugir de tiroteio com um só chinelo no pé, que o outro se perdeu ao cruzar uma vala, desprezando, em adágio lordesco, a plebe corrente, graças à blindagem por cátia-a-marvada (Ilha Grande, 2017); tempo de mijar na rua; foder na rua; e, repique do prazer, cagar na rua. Carnaval é isso? Só para as rũis cabeça e os doentes pés. Para Simas e nós todos descolados com ALEGRIA DE VIVER, o Carnaval é o momento de reafirmar laços de afeto! Carnaval é a oposição ao capitalismo regrador! Carnaval é Casa-grande & Senzala de ponta-cabeça! Carnaval é a resistência de corpos[1] decoloniais contra o projeto excludente da cidade européia! O Carnaval assusta o poder! As ladeiras de Santa Teresa se sonham Sierra Maestra.
Como ensina qualquer livro didático, o poder no Brasil sempre foi monopolizado por calvinistas de chapéu cônico e sapato de fivela. Quando passa peitinho purpurinado, os banqueiros da Chucri Zaidan sentem os arranha-céus tremerem. A milícia se maloca com medicas dos confetes. O Leblon e Ipanema, de cujas praias saíram Webern e Boulez, montam barricadas contra os foliões e suas chulas marchinhas I-ii-V7. O agro guarda o isqueiro ao ver um beijo triplo guei. O Carnaval foi vital – tá no Hobsbawn, Thompson e Tilly – nas lutas por salário mínimo e direitos trabalhistas. Peça agogô; não peça greve.
É fenômeno que venho observando há vinte anos e primeiro notei na mutação do conceito de nerde, uma vez que eu era assim xingado na infância e além (na época, era só xingamento). A classe média não se contenta mais em apenas consumir certo bem (sentido lato). Ela quer esbagaçar do consumo a maior quantidade possível de prestígio, inclusive sentidos que negam a idéia de consumo, de preferência por meros artifícios verbais. Assim, não basta mais o marmanjo loca ser viciado em Guerra nas Estrelas e, pronto, arcar com as conseqüências do seu mau-gosto. Ele quer ler a franquia como tratado estético-político em trinta tomos pelo George Lukács. Anseia prestígio intelectual consumindo coisa que tica três neurônios.[2] O mesmo com o Carnaval. “Desdos tempos mais primórdios”, qual era a quintessência da folia? A maior quantidade de pegação ou, conforme a putaria, de celular furtado. Mas agora não, não mais. Não basta mais ser o único período do ano quando a tradicionalfamíliamineira tolera que você seja enrabado por duas alpacas mancas no coreto da praça da matriz, pra não falar nada onde entra o tamanduá-bandeira nesse rolo. Não! Zoozoeira não basta. Esse extravasamento anual, pequeno excesso, tem agora de ser igualado, pelo menos, a um (re)piquete, nem que seja da Cut (Confraria Unida dos Tamborins). Fantasia de Princesa Peach, dizem-me, virou ato político e ato político contestador, que assusta o poder e blablablacoblaco, ziriguidum, telecotecétera. A Pedra do Sal se sonha Kronstadt.
Curiosamente, ao engrossarem a militância instagramática, por mais ligeira, por mais boba, aqueles que se querem antissistêmicos e o escambau acabando demonstrando a mesmíssima mania acumulativa que nem qualquer, digamos, dondoco conformistão. Aqui faço esculacho social, não individual, com medo de perder muitos colegas entre os dois que tenho. Se a mensagem contestatória é peso-pena, que motiva o compartilhamento? O pequeno-burguês não quer acumular mercadorias sem fim sem propósito? Sua própria noção de bem-estar, físico e mental, não consiste em bibelôs? Pois hoje há quem também precise acumular sentidos nas ações mais triviais que pratica. Quer-se o máximo do que se consome, não como experiência pessoal, às vezes intransferível e incomunicável, mas como prestígio, meio de sinalizar e de hierarquizar. Isso está até certo pragmaticamente, afinal, quase todas as atividades ou talvez logo todas as atividades visam reforçar, se não as hierarquias existentes, ao menos a idéia de que hierarquias devem existir e eu estou por cima de ti – seja em pegação, furto de celular ou militância. Quem é esperto, disputa o decatlo no estádio do estátus, as olimpíadas inteiras, paralimpíadas também. Para continuar se sentindo por cima da carniça, é o que faz essa galera páti e maurícia da Disneylândia Carioca acostumada a consumir tudo, a começar por papinhas orgânicas de mirtilo-da-islândia e chupeta de grife. Um belo dia, ali pelas onze e tantas da noite na Garcia d’Ávila, descobrem que é possível também consumir o intangível. Aí, duma hora prà outra, desandam a bancar de intelectuais e/ou artistas. (Também acontece com os pés-de-chinelo do Reino Unido da Subúrbia e Favelônia, tá?).
As redes sociais intensificaram a compulsão acumulativa por permitirem angariar prestígio na mor brisa. Não só pela lacração sem risco de socão; veja nas bios como as pessoas, cada dia mais bitoladas, se definem, contudo, em currículo renascentista. Ficaram comuns rixas internéticas entre quem gosta e quem detesta Carnaval, com previsíveis posicionamentos (já que o sápiens não sapia), uns no campo popular/coletivista/esquerda/dionisíaco/nietzschiano, outros no aristocratizante/individualista/direita/apolíneo/schopenhaueriano. São simplesmente pessoas ou, hablando certo, corpas tentando provar-se superiores às outras em função das suas frescurites (este texto também o é, mas, espero, de forma menos escrota, embora mais escrotinha).
A zoa tem lá seu papel contestatório – isso tá mermo no Tilly inter alia –, mas não é preciso suingar a já pluridecibélica retórica do megafone pro carro-de-som do samba-enredo. Numa repartição pública, deboche pros imbecibélicos que ladram ordens já dá mais chance de resultado político concreto que abadá do Che. A zoa que constrange é cara a cara. Na vida real, os conflitos acontecem antes como trombão de corredor que desfile da Sapucaí. Quem quiser, chame tal mesquinharia de luta e resistência, o que é mesmo. Mas tanta gente vive os outros 360 dias fantasiada que a distinção se perde.
Vão falar que sou ranzinza, antipático, elitista, despolitizado, reaça, pega-ninguém, mal ladrão de celular. Aceito. Já ouvi isso várias vezes, sobretudo pega-ninguém e mal ladrão de celular. Esqueceram só estraga-prazeres. Bourdieu, autor que você de tem citar para afirmar obviedades, reparou que ninguém gosta do sociólogo, um estraga-prazeres profissional que desmascara a fajutice do Jogo da Vida. Também faz parte do jogo. Mas essas coisinhas, essa predisposição à militância performática, à dramatização simbólica do trivial, pelo automatismo, revela talvez alguma estrutura social profunda. A mania de acumulação de prestígio fantasista, afinal, é tão grande que grupos, com os mais distintos percursos sociais, convergem nela. E isso é certo. Qual o nome desse zaralho? Estágio patológico do capitalismo financeiro terminal? Não... Resposta muito fácil – e performática. Por ora, contento-me com um sei lá. O que sei é que não tenho como levar a sério a simonia da Festa de São Momo – compre adereço, leve a revolução decolonial. Qualquer coisa fora de proporção vira piada – como este texto.
Se as pessoas precisam dopar semanticamente a própria curtição, como quem usa grife falsi na esperança de que ninguém perceba, me pergunto vendo a multidão sob a soleba: esse mulão todo está feliz mesmo ou só fingindo? E quando a felicidade é mais fajuta: no Natal, Ano-novo ou Carnaval? Porque para ser feliz é preciso um monte de coisa, a maioria ruim.
II – Tristeza
Vivo a desoras, muito cedo, muito tarde. Meu primeiro bloco de Carnaval foi o Carmelitas em 2006. Talvez não tão tarde. Tinha vinte e um anos e há poucos meses começara a beber e a beber forte. Talvez já tarde. Minha família é calvinista de chapéu cônico e sapato de fivela.
Esse período é muito confuso e meu diário, lacunar. Fui por quê? Fui, porque... Bem. Fui. Talvez não devesse ter ido. Não, não deveria. Mas continuei indo a outros por cinco anos, geralmente com a mesma galera. Nunca me diverti, acho. Certamente nunca feliz. Enchendo os cornos antes e depois em casa, minha e de amigos, outros, no bar, até, às vezes – alegrinho só, ainda assim. Durante não, nunca. Depois, menos ainda. Continuei indo de apelido que me deram no Carmelitas, empertigado e duro: boneco de Olinda. Onde ponho as mãos? O pescoço muito curvado? Torto? Recolho os cotovelos para não tocarem em mim, cuidado para não entornar a cerveja. Autoconsciência é ruim; espontaneidade, também. A asfixia do oxigênio. A gastura da mente. O medo da multidão, da turma, do grupo, da patota, do interlocutor, do toque. Conversa de travesseiro ansiada. Nunca. Essa, íntimo máximo, anos depois, me decifrava, na hora que devia ser e não era, como “esfinge”. Ela sonha sobre o travesseiro errado.
O Carmelitas até que. A memória, a bem dizer. Na Cinelândia, alguém incongruente cantava ou tocava The Immigrant Song. Devia ser eu solo ou duo. Iceland in Rio. Tardinha, não muito calorão, não muita muvuca, devagar Santa Teresa acima. Moça bonita aqui, moça bonita ali. Muita moça bonita no mundo. Ainda assim não a. Olhosverdes. Em curvas, a cidade e o mar, cor-de-folha-seca. Falo? Pra quem? Às vezes, é um tico no paralelepípedo que me distrai. Falo? A luz fica bonita. Falo? Muita coisa bonita no mundo. Mas já já logo logo essa tristeza. Depois, noite, Democráticos ou Cacique de Ramos. Não lembro direito. Esse período é muito confuso e meu diário, lacunar. A tristeza, certa.
Nunca torci em estádio. Me irrita até concerto (câmara, sim, às vezes). Imitar me apavora, mesmo palmas. A multidão sufoca. Quando me perguntam como estou, digo mal, porque sim. Qualquer rito é grotesco, mímica de marionete no espelho. Despersonal. Lesma no saleiro. Trago o traje errado, o trejeito errado, o tropo errado, a tristeza errada, até a esquisitice errada num planeta todo certinho de errado. O estrangeiro dos alienígenas periféricos dos anéis exteriores de Netuno. Mas não vou mudar. Gosto até. Non serviam. Manguaça ajudou a suportar. Neblina pessoal em névoa de guerra. Isso meu é vida? Vida – o que acontece com os outros. Apesar do calor, apesar do barulho, apesar do fedor, apesar do trombão, os outros, sua superfície, parecem felizes ou fingem. Aqui ao redor, atacadão de gestos que entendo sem entender direito pra que servem, mas que não, não vou, não. Qual a graça? A expectativa? A esperança? A estatística? A estética? Muita gente e todos tão iguais. Te chamam de esquisito, mas putaços quando te ouvem afirmado o. Muita gente e tudo tão igual. A praia acotovelada por sol e eu entre florestas de quelpe. Mas também quero. Talvez. Quem sabe? Deve ter graça. Sei lá.
A baixinha estica o carão sorridente na minha errada enquanto me encolho. Me diz que tenho o sorriso bonito. Nem me sabia sorrindo. Ou falou dos antes? Que quase sempre escárnio ou desconforto. Calha só o perverso do flerte, isto, fingido, sei lá. Me encabulo fácil. A gente comum é dez bilhões mais doida. Não entendo o que querem. Nem eles. A graça deve ser a manipulação. O sorriso dela se apaga. Quique falei? Sei lá. Acho que meus dentes são ingleses. Sei lá. Do palor tenso ao alívio vermelho. Sei lá.
2007, meio-dia, lava pela Lapa, quentelenta. Milhares. Cordão do Bola Preta. Preocupado por cada rosto, por não sei. Não estou chapado. Ainda. Nessa catinga, nem se quisesse. Então, ali, bem ali, logo ali. Vi um cara. Rapaz talvez, sim ainda, mais velho que eu, pouco, sem dúvida, apesar. Logo ali, bem ali, ali, ali. Se alguém da patota reparou, fingiu não. O cara não tinha cara; tinha só um tumor. Ninguém nem aí, sequer o sem-cara. O Bebê de Tarlatana Rosa. Não. Ninguém nem aí, sequer o sem-cara. Por que caralho então sou assim tão triste?
Eu e as pessoas mantemos conexões cósmicas – anos-luz. Acenos de escafandrista ao astronauta. Com os mais chegados, alôs por cabo telegráfico submarino. Face a face, fantoches de meia. E, à suspeita de mão no fantoche, mais que estranhamento: véspera de hostilidade, desprezo, ódio, rancor. Dão um passo em minha direção, dou dois atrás. É fácil ganhar, do nada, um socão no meio da fuça. Já.
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, disse tanto, tanto, tanto, olhando pro chão, olhando pro ar, olhando pro horizonte, olhando pro nada: eu não gosto que me abracem, eu não gosto que me toquem, eu não gosto de gente, eu não sinto nada ou bem pouco por quase todos, eu não vejo propósito, a angústia nunca sai, o mal-estar nunca sai, muito miúdo para a vida, todo mundo é muito miúdo para a vida, o resto é teatrinho, sem saída, é tudo treva, é muito triste, é melhor estar morto. Caretas confusas. Alguns risos: “Tá fazendo tipo”. Num mundo de mentirinha, verdade nenhuma, como? Entretanto, fica o por dizer. Dito de certa forma assim: muito bêbado, chorei na mesa de bar e pedi para segurarem minha mão. E ela na mesa. Isso, me ensinam superiores, não é coisa de homem®. Não sou homem nem com H nem com h, nem marca registrada nem marca-barbante. Sou outra coisa. Onde homem? Me mostrem. Um homem sim era esse conhecido, bonitão (gamadinha nele, eu sabia). Só gente burra acha inteligência importante. O galã se queixava da solidão que sentira em certo Ano-novo sem mulher. História triste todo mundo conta. Ninguém pode ser feliz com um cisco no olho. Mas é muito mais que falta de boceta no reveiom. Ou no Carnaval. Ou outra época do ano. Mar e cidade cor-de-folha-seca. Isso, entende? Falo? Pra quê? Pra quem? “Você sempre tem um comentário pra fazer, né?” Ela. Don’t Let Me Down. Vocais estourados no refrão. Até hoje não sei se foi fora. A persistência da memória. Falo pra quê?
Mudo, tagarelo que tanto afeto dito e feito é pura, pura, pura fajutice. Cisco no olhar, meu e alheio, muito frágil ou muito brutal. Fujo dele. Me tomam por tímido; mais razão, por misantropo. Frágil violência. O dia espezinha a noite e vice-versa. No trivial, estupidez embolada com sagacidade. Meio cego, meio vidente. O fácil é difícil e o difícil é fácil. Nos tempos universitários, os piores entre ruins todos, bisonho, teve quem me tomasse por louco ou mesmo psicopata. Gaguejava, gesticulava, chacoalhava, gargalhava. Desespero. Todo dia vinte socos no estômago surpreso. Todo dia, pois de noite podia vir mais. Sempre melhor apanhar na cara. Candidamente, o pior mundo possível saído do que deveria ser a melhor. Os que temem palavras duras diziam “figura”. Amigos, colegas, conhecidos e, no fundo, ninguém, ninguém. Mas eu também acho quase todo mundo.
Praça Tiradentes. Alguém poça de vômito cósmica. Pelo cheiro, diarréia de chorume. Olho pro céu. Azuldourado, fim de tarde, nuvem nenhuma, uma isso, um aquilo, ≈ A, > B, ⸪ C, ∈ D, ¬ E, assim, assim, longe, longe, bem longe. Tão bonito. (Quando o fedor passa.) Sempre um comentário pra fazer sem fazer.
Pra quê? Todo dia, há tantos anos, tantas vezes a mesma pergunta, todo dia há tantos anos tantas vezes: pra quê? pra quê? pra quê? Dúvida demais, já tudo azedo, azulzedo. Cinco anos, doze anos, dezesseis anos, dezenove anos, vinte anos, vinte e um anos, quase quarenta. Sem saída, é tudo treva, é muito triste, é melhor estar morto. Vida é o que acontece com os outros. Floresta de quelpe. Treva azuldourada.
O oceano azul evapora, a atmosfera azul escapa, a Terra azul morre, o Sol azul se apaga. Acabou o quelpe. 1990.
Ninguém. Nem nada. Para ou com. Nada, ninguém, nunca, não.
No bloquinho. Boneco de Olinda dos anéis exteriores de Netuno. Tumor na cara. Escafandrista de terra firme. Lesma no saleiro.
[1] Soa muito intelectual, uai, newton-foucaultiano, essa bossa de falar corpos em vez de pessoas! Mais ainda corpas!
[2] Claro que a cultura de massa se presta à crítica intelectual séria, que, a bem dizer, chega até mais a ser mais complexa que a análise da cultura erudita, de códigos altamente formalizados e circulação mais restrita. Mas, da mesma forma que vivência não se equipara automaticamente a análise, tampouco quem consome cultura de massa necessariamente a compreende num alto nível de sofisticação por maior que seja o entusiasmo.





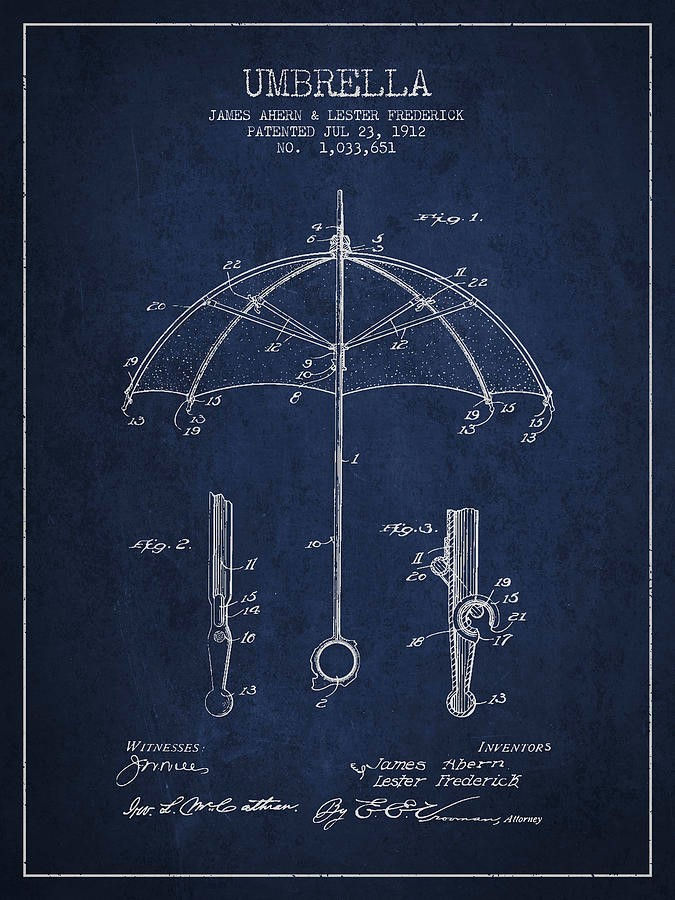

Comments