Limões Transladados
- Álvaro Figueiró

- 18 de fev. de 2022
- 7 min de leitura

Cada qual com seu prazer cruel. Uns gostam de foto de gente morta, outros curtem a coisa acontecendo no vídeo, outros ainda celebram no WhatsApp velórios de desafetos ideológicos, Fulano adora fofoca desabonadora sobre os colegas, Sicrana é especialista em calúnia dorsal, Beltrano diverte-se com briga de mendigo e Joãozinho gosta de quebrar vidraças, xingar velhotas, bater no retardadinho da turma, rir de tombo feio, puxar rabo de gato, passar pimenta em fiofó de passarinho e, horror, tacar sal em lesma.
Eu tenho um quê de Joãozinho, ginásio completo. Minhas glândulas sulfúricas babam ao roçar em tradução zoada. O primeiro sarro com a vítima é sempre leve perturbação na leitura, cisco no olho. Aí tu dá marcha à ré no texto até sentir de novo o sacolejão. O asfalto tipográfico nesse ponto começa a ter algo de quebra-mola ou buraco. Você promete a si parar de beber conhaque de alcatrão São João da Barra, comer mais espinafre e voltar a plantar bananeira para oxigenar o cérebro. Então a obstrução na mancha tipográfica revela-se bizarra como floco de neve no verão de Bangu. Sim, tu tem que beber mermo menos conhaque de alcatrão São João da Barra, mas a leitura emperrada não é culpa do teu cérebro, mas do cérebro do tradutor. Para quem conhece bem a língua-fonte, restaurar o texto estropiado pela má tradução ocasional pode ser apenas gambiarra para salvaguardar a inteligibilidade dum trecho, mas, quando os erros são recorrentes, a leitura transforma-se numa risonha Pedra de Rosetta.
N’A Sociologia do Brasil Urbano de Anthony e Elizabeth Leeds, a edição original continha estas passagens:
Pode-se notar também que, além de pagar pela instalação de equipamento de eletricidade estatal (transformadores, pólos, relógios etc.), com seu próprio dinheiro, os moradores das favelas tinham que pagar uma taxa extra de 20% sobre o total da conta de luz de cada favela [...]
Freqüentemente, estão, ao menos em parte, relacionadas às diferenças territoriais e ao lugar de imposição de influências externas por exemplo, estações de gás nas entradas rodoviárias da cidade, pontos de abastecimento de energia elétrica
Na primeira passagem é bastante claro, inclusive no que veio antes e não foi citado, que o tema tem a ver com energia elétrica. Leitor, volte lá em cima e veja qual palavra distoa. É “pólos”. No inglês poles é homófono para “pólos” e “postes”. Decerto, por distração, o tradutor entrou no piloto-automático e ignorou que a opção escolhida não fazia sentido. Na segunda passagem, o erro é mais sutil, até porque o motivo é mais abstrato. Entretanto, “estação de gás nas entradas rodoviárias da cidade” faz mais sentido como “postos de gasolina” que proporciona tradução lé com cré para gas station.
É difícil não encontrar equívocos tais na tradução vala-comum do mercado editorial luso-brasileiro, mesmo quando a língua-fonte é o banal inglês. N’A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Nicholas Taleb, há combinações esquisitíssimas como “corporação pública” e “livros estudados” que só fazem sentido quando retrotraduzidas literalmente: public corporation e learned books, isto é, “sociedade anônima” e “livros eruditos”. Os exemplos acima são sopa-no-mel, não exigem malabares mentais. Eu gosto dos que me dão carapuça de Champollion, Ventris, Chadwick, Knorozov, Coe e outros decifradores de idiomas ignotos. N’O Chamado do Cuco, duma camuflada J. K. Rowling, apareciam uns misteriosos “enteados consuetudinários”. Por trás desse exótico parentesco está o inglês common law stepchildren. De fato, não sei como traduzir isso elegantemente em português: seria algo como “enteados em virtude de união estável”, que, feio pacas, ao menos é inteligível. Dá pra dizer que são apenas “filhos do namorido” (ou “da namoresposa”).
Uma das traduções mais calamitosas que já li foi a d’Os Caçadores de Frutas, de Adam Leith Gollner, que rivalizava, inconscientemente, com The Cow Went to the Swamp do genial Millôr. Quase não havia página onde não se achassem belezuras como “abacates sem empedramento”, “olho ocioso”, “comunidade de portões fechados”, “muitos desses carros são limões”. “Olho ocioso” soa até poético, mas o autor queria dizer apenas lazy eye, “ptose”. Os outros explicavam-se como unstoned avocadoes (abacates sem caroço), gated community (condomínio fechado), many of these cars are lemons (“muitos desses carros são uns abacaxis”, tradução que ainda permite conservar a metáfora frutada).
Todas as restituições dos parágrafos acima fiz no palpite bem informado, ou seja, sem consultar o original. Inglês hoje é trivial. Não se pode dizer o mesmo do português que atordoaria o gringo, mesmo romanista, que consultasse certo cardápio que vi em Fortaleza: o estabelecimento tinha accomodations I eat cybercafé, oferecia chair of beach e servia rice to the greek. Entender o cardápio exigia sabenças de inglês, português e ainda certa sagacidade algorítmica. Aliás, você entendeu?[1]
O inglês beira-mar fortalezense aponta para aquela região quando o ruído compromete o sinal. Mas a incompreensão grave não ocorre apenas no Crocobeach (não confundir com o Cocobeach!). Ocorre, de novo, nos livros em voga mais sisudos. Em Homo Sacer, de Giorgio Agamben, outro desses muitos filósofos duma idéia só que já tinha aparecido alhures várias vezes, discorre-se sobre o historiador alemão Ernst Kantorowicz. Fiquei sabendo que, na juventude, Kantorwicz lutara contra os espartaquistas e os “conselheiros de Mônaco”. Peraí. Revolução comunista em Mônaco, a Alphaville com cadeira na Onu, até eu pego em armas contra essa esculhambação. Perplexo com o acinte à ordem e à geografia, mobilizei meus sete pontos de QI para sanar o mistério. Como antes lera que o “hebreu” Kantorowicz era o “maestro” de não sei quem, percebi que a zica não era, nesse caso, anfiguri do excepcional filósofo, mas do tradutor ordinário. Não haveria chance nenhuma de a roleta em Montecarlo parar nem, num futuro alternativo, o GP de Mônaco ser cancelado (havia automobilismo na União Soviética?! com Lada e Skoda?!) pelos temíveis revolucionários ricaços da Riviera. Em italiano, a capital da Bavária, Munique, é Monaco ou mesmo Monaco di Baviera para não confundir com a Alphaville-sur-Mer. O trecho, enfim entendi, referia-se à efêmera República Soviética (ou Concilia) Bávara. Então os “conselheiros de Mônaco” eram os membros do governo socialista em Munique. Por causa dessas marombas eruditas é que concluo mais prudente confiar na própria dislexia e ir ler no idioma original sempre quando possível.
Por um lado sinistro, o fato de essas disgramas passarem batido só pode sinalizar que, para muita gente, a página é rinque de patinação. Até especialista revela entendimento superficial do texto por certas escolhas de tradução. Brodwyn Fischer em A Poverty of Rights tem uma bizarra inveterada mania de traduzir torneios idiomáticos e mesmo reproduzir, em inglês, erros ortográficos e gramaticais. É um respeito descabido pelas fontes, que estão em português (por isso convém, junto à tradução, conservar o original). No entanto, quando vi “manda-chuva” convertido em rainmaker, comecei a ter sérias dúvidas sobre competência lingüística da gringa. Janice Perelman, outra brasilianista, grafa, mais duma vez, as Diretas Já como Direitos Já, que ela devidamente traduz como Rights Now. Em favor de Perelman, registro o espanto alegre que me champanhou todo a seguinte enumeração demolidora da empáfia daquele posto avançado suburbano que pensa pertencer à Disneylândia Carioca: “popular bairros such as Tijuca, Irajá and São Gonçalo”.[2]
Em Brasil, País do Futuro, Stephan Zweig referiu-se ao fagocitado Uruguai como “cisalpinische Provinz”, província cisalpina. Pode ter sido lapso, recordações da Áustria província cisalpina do Reich, mas Zweig escreveu cisalpinische Provinz duas vezes. É mais provável que Cisplatina foi entendida errado pelo escritor alpino. (Claro, que pode ter sido mera gralha tipográfica e que o suiciduro austríaco estava cagando pras provas.)
Além de exercício de saudável sadismo, a faxina mental de tais toletes prepara-nos para enfrentar alguns dos verdadeiros banheirões da crítica historiográfica. Predominando nas civilizações a diglossia e mesmo o bilingüismo, o historiador das brenhas tem grandes chances de topar com documentos que foram escritos num idioma que não era nativo ao autor. Na Idade Média, essa era a regra, o latim materno já desaparecido. Qualquer texto latino medieval vai depender da cultura clássica do autor, a proximidade do idioma materno com o latim, o público ao qual o texto se destina, qual o grau de inovação social o documento procura registrar entre vários etcéteras. Todos esses fatores acarretam que a compreensão de certas passagens – às vezes do texto todo – dependa não do latim em si, mas do idioma nativo do autor, coisa que este mecânico aqui sempre avisa aos doutores quando trazem o carango para Retífica Latina Figueiró. Num relato quatrocentista sobre as Ilhas Canárias, o infanticídio pelos guanches é assim descrito: “Et accipunt alium lapidem et dant in caput pueri”.[3] A tradução literal, inclusive na ordem, é “E pegam outra pedra e dão na cabeça da criança”. Mas isso só faz sentido porque, na verdade a tradução, é praticamente uma restituição de como o autor, português, formulou a primitiva idéia, em português, traduzindo-a depois literalmente para o latim. Um bom latinista que ignore português talvez fique perdido com o elíptico críptico “dant in caput pueri”. Numa das minhas raras manifestações acadêmicas (tava querendo pegar uma das editoras), publiquei artigo sobre um código minerário baixo-medieval onde aparecia a expressão lapides manuales que dicionário nenhum registrava. A muito custo, descobri que se tratava de decalque do alemão Handstein, o que, enfim, esclareceu o enigma. (Não vou falar o que significa lapides manuales. Vá ler o artigo! Humpf!) Na verdade, nem os medievos se entendiam. Em 1157, o papa enviou legados à coroação do Sacro Imperador prometendo-lhe majora beneficia (“presentes maiores”), sentido do latim clássico, só que, na Alemanha, beneficia já era a tradução para Lehen, “feudos”. Presumindo que o papa saidinho se arrogava suserano do imperador, os núncios papais levaram uma boa coça.[4]
Considerando a mixaria que ganha o tradutor, é muita sacanagem lhes ficar batendo, tacando pedra na vidraça, colocando pimenta na cadeira e rindo dos tombos eruditos.
Alvinho, Alvinho... Ai, moleque capeta!
[1] Recentemente, diante desse parágrafo, me contaram o causo da brasileira que se gabou: I literally eat the books! Devia ser uma traça, bookworm.
[2] O livro como um todo é horrendo – mas quem pode publica pela Oxford University Press com prefácio do Fernando Henrique Cardoso. Como quero publicar um artiguinho aí, vou fazer referência.
[3] Códice Valentim Fernandes. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 1997, p. 303.
[4] POLY, Jean-Pierre; BOURNAZEL, Eric. La Mutation Féodale: Xe – XIIe siècle. Paris: PUF, 1992, 2ª ed, p. 106.





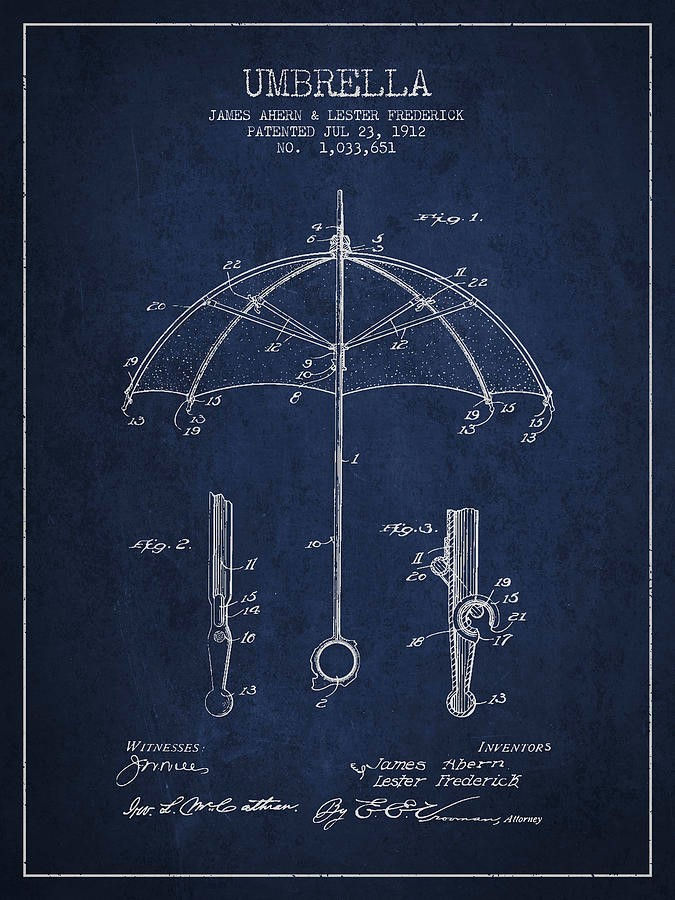

コメント